O texto versa sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e os principais pontos que permeiam a dificuldade na sua aplicabilidade.

O advogado Gustavo Schiefler estreou, no último domingo (23/05/2021), na nova coluna do site Conjur: Público & Pragmático. O seu primeiro texto, intitulado “É recomendável aplicar a nova Lei de Licitações na pendência do PNCP?”, versa sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e os principais pontos que permeiam a dificuldade na sua aplicabilidade, oferecendo diretrizes e soluções aos impasses. Acesse em: https://www.conjur.com.br/2021-mai-23/publico-pragmatico-recomendavel-aplicar-lei-licitacoes-pendencia-pncp
A coluna Público & Pragmático recebe textos aos domingos e segue sob a curadoria do Prof. Gustavo Justino de Oliveira (USP e IDP).
Read MoreA exposição ocorreu no evento Judiciário Exponencial.
 O advogado Gustavo Schiefler participou, hoje (13/5/2021), do evento Judiciário Exponencial, proferindo palestra sobre a contratação direta de Encomenda Tecnológica (art. 19, §2º-A, V, da Lei da Inovação). Em sua apresentação, Gustavo Schiefler enfatizou o potencial disruptivo desta modelagem contratual, vocacionada a resolver problemas concretos da Administração Pública que dependam de um desenvolvimento tecnológico ainda inexistente ou indisponível, em que exista risco tecnológico.
O advogado Gustavo Schiefler participou, hoje (13/5/2021), do evento Judiciário Exponencial, proferindo palestra sobre a contratação direta de Encomenda Tecnológica (art. 19, §2º-A, V, da Lei da Inovação). Em sua apresentação, Gustavo Schiefler enfatizou o potencial disruptivo desta modelagem contratual, vocacionada a resolver problemas concretos da Administração Pública que dependam de um desenvolvimento tecnológico ainda inexistente ou indisponível, em que exista risco tecnológico.
Contando com a participação de mais de 40 integrantes de Tribunais brasileiros, Schiefler destacou a existência de um importante precedente contratual, que pode servir como referência para novas contratações semelhantes: a encomenda tecnológica realizada pelo Supremo Tribunal Federal em 2019, para o desenvolvimento de um módulo integrante do PJe com inteligência artificial. Para quem se interessa pelo tema, Gustavo Schiefler recomendou a obra “Contratação de Inovação na Justiça – com os avanços do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação” (2020), da qual é autor de dois capítulos, onde trata não somente da Encomenda Tecnológica como também de outras formas de contratar tecnologia.
Participaram também do evento, como expositores, os Drs. Ademir Piccoli (organizador do Judiciário Exponencial), Nathália Domingues Oliveira Barbosa (assessora do NIT/UFMG), Thiago de Andrade Vieira (Diretor de Tecnologia da Informação do CNJ) e Rafael Bitencourt (Líder de Práticas de Contratação de Nuvem em Governo da AWS).
Read MoreO novo marco consolida importantes flexibilizações e simplificações procedimentais, sobretudo no âmbito do uso de tecnologias da informação, que devem facilitar, na prática, a condução dos procedimentos licitatórios.
 No dia 1º de abril de 2021, foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 14.133/2021, que unifica o regime jurídico sobre licitações e contratos administrativos no Brasil. A “Nova Lei de Licitações” inaugura e protagoniza uma era digital no âmbito das contratações públicas brasileiras, estabelecendo-se como um esperado paradigma normativo, sobretudo devido à defasagem sistêmica da Lei nº 8.666/93 e demais normas que historicamente regem as licitações e contratos administrativos.
No dia 1º de abril de 2021, foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 14.133/2021, que unifica o regime jurídico sobre licitações e contratos administrativos no Brasil. A “Nova Lei de Licitações” inaugura e protagoniza uma era digital no âmbito das contratações públicas brasileiras, estabelecendo-se como um esperado paradigma normativo, sobretudo devido à defasagem sistêmica da Lei nº 8.666/93 e demais normas que historicamente regem as licitações e contratos administrativos.
Em síntese, a Lei nº 14.133/2021 consolida em um único diploma normativo o regime jurídico aplicável às licitações e contratos administrativos, sendo que, antes disso, as normas legais encontravam-se distribuídas entre disposições contidas na Lei Geral de Licitações (Lei nº 8.666/93), na Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e, extraordinariamente, na Lei nº 12.462/11, que dispõe sobre o Regime Diferenciado de Contratações (RDC). O novo diploma traz importantes aperfeiçoamentos para o âmbito das contratações públicas, consolidando boas práticas, introduzindo novos institutos e corrigindo falhas pontuais do sistema licitatório brasileiro, ainda que siga uma sistemática muito similar à antiga (em processo de substituição) Lei nº 8.666/93.
Com 194 artigos, a Lei nº 14.133/2021 visa a ocupar a posição de “lei geral”, propondo-se a ser um diploma consolidado e exauriente sobre o tema. Dentre seus cinco títulos, a lei inclui não apenas disposições acerca das licitações e dos contratos administrativos propriamente ditos, como também tipifica infrações e prevê as respectivas sanções, realizando, inclusive, modificações no Código de Processo Civil, no Código Penal e na Lei das Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004).
A Nova Lei de Licitações foi aprovada e publicada após quase 25 anos de discussões e tramitação, entre idas e vindas nas comissões parlamentares, uma vez que o Projeto de Lei nº 4.253/2020, que deu origem à atual Lei nº 14.133/2021, consiste, em realidade, em Substitutivo da Câmara dos Deputados aos Projetos de Lei do Senado nº 163/95 e nº 559/2013.
Novidades da Nova Lei de Licitações
Pensada com o objetivo de adaptar os mecanismos licitatórios e contratuais à realidade contemporânea, que é voltada ao universo de atividades em âmbito eletrônico, e visando, sobretudo, a acompanhar a dinâmica atual das relações contratuais da Administração, a Nova Lei de Licitações trouxe um grupo de novidades voltadas aos procedimentos eletrônicos e instrumentos digitais, como, por exemplo:
- A criação do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), ainda a ser instituído, que terá por objetivo operacionalizar e concentrar informações sobre licitações e contratos administrativos. O portal em questão ficará responsável, ainda, pela divulgação centralizada de todos os atos licitatórios dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- Licitação em meio eletrônico como a regra geral para todos os certames e, caso seja realizada de forma presencial, a imposição de que as sessões sejam gravadas em áudio e vídeo.
Além da necessidade de acompanhar o desenvolvimento tecnológico, um dos fios condutores do novo marco licitatório foi um visível esforço para que a Administração Pública mantenha-se em consonância com as melhores práticas contemporâneas, seguindo o que atualmente está pacificado na jurisprudência e em normativas infralegais. Nesse sentido, foram inseridos diversos dispositivos na Lei nº 14.133/2021 que têm por objetivo prestigiar a simplificação e o formalismo moderado nas contratações, racionalizando procedimentos e sedimentando práticas contratuais já existentes, mas que não possuíam, até então, previsão legal no regime ordinário. Nesse contexto, destacam-se as seguintes alterações:
- Incorporação, no novo diploma, de práticas e procedimentos não previstos nem regulamentados pela Lei nº 8.666/1993, como a contratação por credenciamento, a pré-qualificação do objeto ou de interessados, o procedimento de manifestação de interesse (PMI) e o registro cadastral unificado (art. 78 e ss.);
- Protagonismo à etapa de planejamento das licitações públicas, com destaque para o estudo técnico preliminar (art. 18);
- Maior flexibilização das hipóteses de dispensa de licitação, bem como a adequação dos exemplos de inexigibilidade (art. 75);
- Previsão de contratação de bens e também de serviços exclusivos, indicando formas mais flexíveis para viabilizar a comprovação de exclusividade, além da suavização na comprovação da notória especialização (art 74);
- Alteração do prazo e vigência de contratos de serviços ou fornecimentos contínuos, ou sob regime de fornecimento e prestação de serviço associado: de até 5 anos, prorrogáveis por até 10 anos (art. 105 e ss.);
- Antecipação dos efeitos do termo aditivo (art. 132);
- Possibilidade de afastamento do dever de elaborar parecer jurídico em razão do valor, complexidade ou padronização das contratações (art. 53, §5º);
- Diretrizes em favor do saneamento de vícios e critérios para decisão sobre a preservação da avença ou declaração de nulidade do contrato (art. 12, III, art. 59, I e V, art. 71, III, e art. 147).
A Nova Lei de Licitações repete algumas modalidades de licitação já conhecidas, como o pregão, a concorrência, o concurso e o leilão, sendo que o rito licitatório é inteiramente inspirado na experiência do pregão (com fase recursal única e habilitação após o julgamento). Ao lado das modalidades conhecidas, a Lei nº 14.133/2021 prevê ainda uma nova modalidade específica para o desenvolvimento de soluções durante o certame: o diálogo competitivo. No novo diploma foram extintas, porém, as modalidades de convite e tomada de preços, previstas na antiga Lei Geral de Licitações.
Ademais, é digna de nota a preocupação do novo diploma com a sustentabilidade, que teve sua importância majorada por meio de previsões específicas, como a contida no artigo 144 da Lei nº 14.133/2021, que permite o estabelecimento de remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, inclusive com base em critérios de sustentabilidade ambiental.
O dever de integridade também ocupa posição de destaque no texto da nova lei, uma vez que passa a ser obrigatória a existência de programa de integridade pelo licitante no caso de contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto (superior a duzentos milhões de reais), conforme dispõe o art. 25, § 4º, além de ser utilizada como critério de desempate (art. 60) e atenuante de eventuais sanções impostas (art. 156, §1º).
Cumpre destacar, ainda, algumas novidades pontuais, como a criação da figura do “agente de contratação”, em substituição à comissão de licitação, e as alterações em matéria criminal, uma vez que a nova lei acrescentou doze tipos penais ao Código Penal. A propósito, a Lei nº 14.133/2021 revogou e substituiu, desde a sua publicação, os crimes previstos na Lei nº 8.666/93.
Aplicação da Nova Lei de Licitações
A Nova Lei de Licitações entrou em vigor na data de sua publicação, porém permanece sendo de uso facultativo até o marco temporal de 1º de abril de 2023, quando serão oficialmente revogadas a Lei nº 8.666/93 (atual Lei Geral de Licitações), a Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão) e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462/2011 (que tratam do Regime Diferenciado de Contratações – RDC).
Durante esses dois anos de transição e adaptação, será possível utilizar, em licitações e contratos administrativos, alternativamente, ou a Nova Lei de Licitações ou o regime definido pelas normas do regime em substituição, sendo vedada a combinação de regimes.
Dos vetos presidenciais
Dentre os 26 vetos presidenciais apresentados, que ainda devem ser analisados pelo Congresso Nacional, destacam-se os seguintes:
- Foi vetado o dispositivo que previa que a empresa contratada por órgão público deverá divulgar em seu site próprio, após a licitação, o teor dos contratos assinados.
- Foi vetada a disposição acerca de autorização conferida aos estados, municípios e distrito federal para estabelecer margem de preferência para produtos fabricados em seus territórios;
- Foi vetado o dispositivo que determinava ao órgão público o depósito em conta dos recursos necessários antes do início da execução de cada etapa da obra;
- Foi vetada a obrigatoriedade de os Municípios realizarem divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato de edital de licitação em jornal diário de grande circulação local;
- Foi vetada a obrigatoriedade de limitação dos valores de referência dos itens de consumo dos três Poderes nas esferas federal, estadual, distrital e municipal aos valores de referência do Poder Executivo federal.
Conclusões
De modo geral, ainda que a Nova Lei de Licitações não possa ser considerada especialmente inovadora, pois, como mencionado, se orienta por uma lógica similar à da Lei nº 8.666/93, é possível afirmar que o novo marco consolida importantes flexibilizações e simplificações procedimentais, sobretudo no âmbito do uso de tecnologias da informação, que devem facilitar, na prática, a condução dos procedimentos licitatórios.
Nota-se que a Lei nº 14.133/2021 carrega, como característica marcante, a previsão expressa e o detalhamento de diversas práticas licitatórias e contratuais que, embora já existissem na prática administrativa, careciam de positivação em lei. A expectativa é, portanto, que o diploma confira maior segurança jurídica aos licitantes e particulares contratados pela Administração Pública, em mais um importante passo no longo caminho de evolução do Direito Administrativo brasileiro.
Read MoreO curso contempla o regime da Lei nº 8.666/1993 e também da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

Nos dias 12 e 13 de abril de 2021, o advogado Gustavo Schiefler ministrou as duas primeiras aulas do curso “40 vícios mais comuns nas licitações e contratações diretas”, promovido pela Zênite Consultoria e Informação.
Em abordagem que contemplou o regime da Lei nº 8.666/1993 e também da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), Gustavo tratou da identificação dos vícios e as consequências no procedimento, assim como dos vícios mais comuns no planejamento da licitação, com foco nos entendimentos do Judiciário e do TCU.
Os principais pontos abordados foram:
- Identificação dos vícios e as consequências no procedimento;
- Entendimentos do Judiciário e do TCU;
- LINDB e a Lei de Licitações;
- Vícios mais comuns no planejamento da licitação;
- Regime atual e novidades pontuais da nova Lei de Licitações;
- Escolha da solução e da modelagem de contratação que melhor atende à necessidade administrativa;
- Definição do objeto;
- Exigência de amostra;
- Reunião do objeto em lotes e divisão em itens;
- Estudo Técnico Preliminar (ETP);
- Pesquisa de preços de mercado de acordo com a IN nº 73/2020 e elaboração de planilhas;
O evento foi promovido pela Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira.
 No dia 5/4/2021, o advogado Gustavo Schiefler ministrou a palestra de abertura do Curso de Licitação e Fiscalização de Contratos dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), em evento promovido pela Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira.
No dia 5/4/2021, o advogado Gustavo Schiefler ministrou a palestra de abertura do Curso de Licitação e Fiscalização de Contratos dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), em evento promovido pela Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira.
No primeiro dia útil após a entrada em vigor da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal nº 14.133/2021), Gustavo Schiefler apresentou os principais destaques deste novo regime de contratações, durante 2 horas-aula, para um público de aproximadamente 70 pessoas. Na palestra, a Nova Lei de Licitações foi abordada em 8 pontos principais. São eles:
- Perguntas básicas sobre a Nova Lei de Licitações;
- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
- Redução de formalidades e adoção de tecnologias;
- Modalidades, Fases e Modos de Disputa;
- Institucionalização dos Diálogos Público-Privados;
- Novidades nas Contratações Diretas;
- Prazo de duração dos Contratos Administrativos;
- Destaques Finais.
A palestra está disponível no YouTube e pode ser conferida no link: https://www.youtube.com/watch?v=P9jxBRjxyG0.
Read MoreTrata-se de uma decisão que, advinda de uma Corte Superior, confere ainda mais segurança jurídica para o instituto do ANPC em sede de ação de improbidade administrativa.
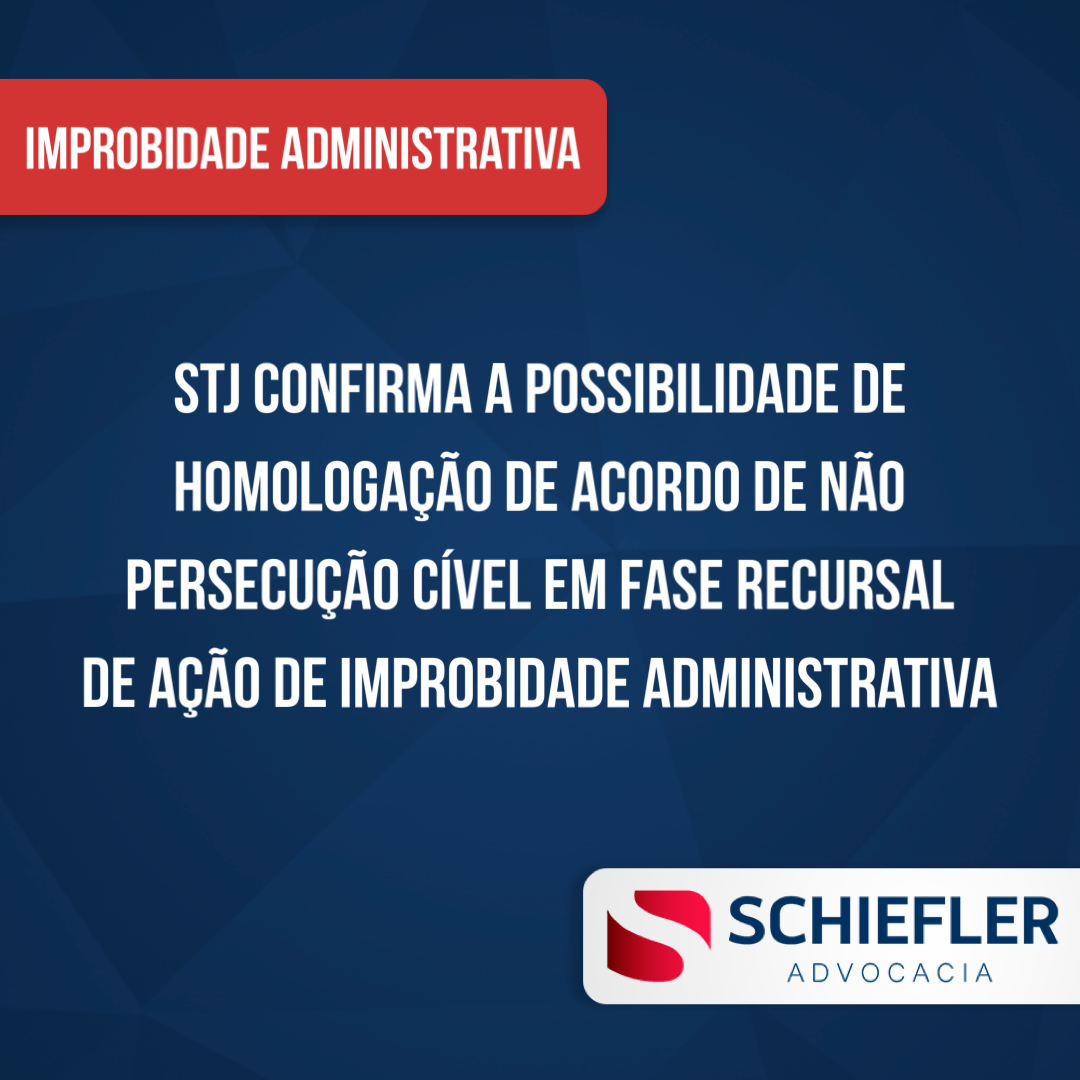 A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu, por unanimidade, a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) nas ações de improbidade administrativa que estejam em fase recursal, inclusive após a condenação em 2ª instância, desde que não tenha havido o trânsito em julgado.
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu, por unanimidade, a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) nas ações de improbidade administrativa que estejam em fase recursal, inclusive após a condenação em 2ª instância, desde que não tenha havido o trânsito em julgado.
Ao interpretar a nova redação dada ao § 1º do artigo 17 da Lei nº 8.429/1992 (“Lei de Improbidade Administrativa” ou “LIA”) pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), o Relator do AREsp nº 1.314.581 – SP, o Ministro Benedito Gonçalves, homologou judicialmente o Termo de Acordo de Não Persecução Cível firmado entre a Promotoria de Justiça do Município de Votuporanga (SP) e o réu. Anuíram com a homologação judicial do acordo também o Ministério Público do Estado de São Paulo, representado pelo Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de parte, e o Ministério Público Federal, por meio de parecer.
No caso, a Primeira Turma do STJ concluiu que, “tendo em vista a homologação do acordo pelo Conselho Superior do MPSP, a conduta culposa praticada pelo ora recorrente, bem como a reparação do dano ao Município de Votuporanga, além da manifestação favorável do Ministério Público Federal à homologação judicial do acordo, tem-se que a transação deve ser homologada”, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil.
O acordo dizia respeito a acórdão proferido pelo TJSP por meio da qual o réu havia sido condenado à modalidade culposa do artigo 10 da LIA em razão de dano ao erário, no valor de R$ 50.000,00, em decorrência de condenação do Município de Votuporanga por danos morais em ação indenizatória. A condenação por danos morais se deu por conta de não cumprimento de ordem judicial emitida ao então réu para o fornecimento, a paciente, de medicamento destinado ao tratamento de deficiência coronária grave, tendo o paciente falecido por acometimento de infarto agudo de miocárdio.
Em sede de AREsp – portanto, depois da condenação em 2º grau de jurisdição, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) – a parte ré firmou com a Promotoria de Justiça do Município de Votuporanga o acordo, com base na atual redação do § 1º do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, na Resolução nº 1.193/2020 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo – que disciplina o Acordo de Não Persecução Cível para o MPSP – e no § 2º do artigo 7º da Resolução nº 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.
A decisão é paradigmática, já que, até então, havia insegurança quanto aos limites de aplicabilidade da atual redação do § 1º do artigo 17 da LIA – que, lacônica, tão somente dispõe sobre a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Cível no bojo das ações de improbidade administrativa – para ações que estivessem em fase recursal.
Embora o caso concreto tenha sido precedido de homologação pelo Conselho Superior do MPSP, e somente depois ter sido levado para apreciação do Poder Judiciário, a Resolução nº 1.193/2020 do Conselho Superior do MPSP, atualmente em vigor, obriga que haja esta homologação apenas nos casos em que a propositura da ação judicial ocorreu por determinação do Conselho (cf. artigo 10, § 2º, da Resolução).
De toda sorte, o fato é que, ao homologar judicialmente o ANPC em sede de Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial, extinguindo o feito com resolução do mérito com base no inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça abre espaço para a celebração de acordos em todas as ações de improbidade atualmente em trâmite, mesmo para aquelas nas quais tenha havido condenação em 2ª instância.
Trata-se de uma decisão que, advinda de uma Corte Superior, confere ainda mais segurança jurídica para o instituto do ANPC em sede de ação de improbidade administrativa, alçando-o a uma importante ferramenta para a solução negocial entre as partes.
Read MoreO evento, realizado de maneira online, é reconhecido nacionalmente como o maior congresso gratuito de Direito do Brasil.
O advogado Murillo Preve participou como parecerista da Mostra de Pesquisa do XV Congresso Direito UFSC, na área de Direito Administrativo e Gestão Pública. Os temas dos trabalhos apresentados pelos participantes da Mostra trataram de diversos assuntos, como: Requisição Administrativa e Direito à Saúde; Princípio da Publicidade e a pandemia de Covid-19; Antecipação de Pagamentos nas Contratações Públicas; Direito Previdenciários e o Princípio da Eficiência na Administração Pública.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Organizado exclusivamente pelos estudantes do curso de Direito da UFSC, o evento foi realizado na semana passada e reuniu, este ano de maneira online, milhares de participantes e os principais juristas do país, sendo reconhecido nacionalmente como o maior congresso gratuito de Direito do Brasil.
As aulas integraram o curso "O que muda com a Nova Lei de Licitações", da Zênite Informação, em que foram abordadas diversas questões práticas sobre a esperada Nova Lei de Licitações.
Nesta terça-feira (2/3/2021), o advogado Gustavo Schiefler abordou diversas questões práticas sobre a esperada Nova Lei de Licitações, cujo Projeto de Lei está em vias de ser encaminhado para a sanção do Presidente da República.
As aulas integraram o curso “O que muda com a Nova Lei de Licitações”, da Zênite Informação. Em dois turnos, Gustavo Schiefler apresentou, a aproximadamente 600 participantes, as principais diferenças existentes nas etapas da licitação, incluindo questões sobre as modalidades, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a publicidade do edital, os prazos mínimos, os critérios de julgamento e os modos de disputa da projetada Nova Lei de Licitações.
Read MoreDa leitura da IN nº 73/2020, que revogou integralmente a Instrução Normativa nº 5 de 2014, sua antecessora, percebe-se que ela trouxe alterações com o objetivo de modernizar o procedimento de pesquisa de preços e torná-lo mais detalhado.
 Eduardo André Carvalho Schiefler[1]
Eduardo André Carvalho Schiefler[1]
Eduardo Prudente Vargas da Silva[2]
No dia 6 de agosto, foi publicado no Diário Oficial da União a Instrução Normativa nº 73/2020[3], da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que dispõe sobre o procedimento administrativo de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Da leitura da IN nº 73/2020, que revogou integralmente a Instrução Normativa nº 5 de 2014, sua antecessora, é possível perceber que ela trouxe alterações com o objetivo de modernizar o procedimento de pesquisa de preços e torná-lo mais detalhado. Resumidamente, a IN 73/2020 traz algumas mudanças bastante objetivas:
1- A aferição da vantajosidade das adesões às atas de registro de preços deverá ser realizada de acordo com o disposto na IN 73/2020 (cf. § 3º do artigo 1º).
2- Quando executarem recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, os órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, deverão realizar a pesquisa de preços de acordo com as disposições da IN 73/2020, (§ 2º do artigo 1º). Registra-se que, antes, não havia vinculação quanto à aplicação da IN 5/2014 para estes órgãos e entidades, embora ela fosse constantemente adotada como referência. Com a novidade da IN 73/2020, estes órgãos e entidades se encontram vinculados à normativa, ou seja, obrigados a observar as suas disposições nas hipóteses em que estiverem utilizando recursos federais decorrentes de transferências voluntárias.
3- Trouxe definições claras para “preço estimado”, “preço máximo” e “sobrepreço”, facilitando o entendimento com o objetivo de evitar discrepâncias quando da aplicação dos referidos conceitos (art. 2º).
Além disso, considerando que a fase de pesquisa de preço é uma fase interna de suma importância para o processo de contratação pública, a IN 73/2020 traz em seu artigo 3º uma formalidade maior: instituiu-se a obrigatoriedade de a pesquisa de preços ser materializada em documento que contenha informações mínimas, como (i) a identificação do responsável pela cotação, (ii) a descrição das fontes utilizadas, (iii) a série de preços coletados, (iv) o método adotado para se definir o valor estimado e (v) as justificativas para a metodologia adotada, em especial para a desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes (novo termo incorporado pela IN) e excessivamente elevados, se aplicável.
Em seu artigo 4º, a IN 73/2020 dispõe como critério de pesquisa a observação, sempre que possível, das condições comerciais praticadas pelos fornecedores, o que inclui os prazos e locais de entrega, a instalação e montagem do bem ou prestação do serviço, as formas de pagamento, o frete e as garantias exigidas, assim como marcas e modelos, quando for o caso.
Já em seu artigo 5º, a IN 73/2020 elencou os parâmetros de pesquisa que devem ser observados, os quais podem ser empregados de forma combinada ou não: (i) Painel de Preços, (ii) aquisições e contratações similares de outros entes públicos, (iii) dados de pesquisa publicada em mídia ou site especializados, ou de domínio amplo, e (iv) pesquisa direta com fornecedores. Da mesma forma que a sua antecessora, a IN 73/2020 determina que se deve priorizar os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II – o que reafirma a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU)[4].
De toda forma, a IN 73/2020 trouxe novidades também nesse quesito, conforme se verifica da tabela abaixo:

Especificamente quanto à pesquisa direta junto aos fornecedores, vale ressaltar que a IN nº 73/2020, em seu artigo 5º, § 2º, prescreve como deverá ocorrer o procedimento de pesquisa, exigindo (i) a solicitação formal de cotação contenha o prazo de resposta conferido ao fornecedor, compatível com a complexidade do objeto; (ii) a obtenção de propostas formais que contenham no mínimo: a descrição do objeto, valor unitário e total, o CPF ou CNPJ do proponente, o endereço e telefone de contato e a data de emissão da proposta; e (iii) o registro, nos autos da contratação, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas. Em comparação com a IN 5/2014, observa-se que esta restringia-se somente à exigência de um procedimento formal, sem detalhar como deveria ocorrer.
Veja-se que, por se tratar de um momento delicado para a administração pública, a pesquisa direta com fornecedores sofreu alterações no sentido de tornar mais clara as exigências de formalização e o rigor dos diálogos público-privados[5] (administração-fornecedores), de forma a exigir formalidades indispensáveis à lisura do procedimento. Ao que tudo indica, o intuito dessa formalização não visa a impedir ou burocratizar as relações comunicacionais, mas aumentar o nível de segurança para a administração e às próprias partes envolvidas (agentes público e econômico).
Outra importante novidade trazida é que, diferentemente do artigo 4º da IN 5/2014, a IN 73/2020 não proíbe, ao menos expressamente, a obtenção de estimativa de preços em sítios de leilão ou de intermediação de vendas, de forma que, em tese, pode-se proceder à realização de pesquisa de preços em marketplaces. Trata-se de inovação que caminha ao lado do que foi anunciado recentemente pelo Ministério da Economia: que o governo federal estuda implantar uma nova plataforma de comércio eletrônico nas compras públicas[6].
Ademais, o artigo 7º da IN 73/2020 discorreu sobre a necessidade de instrução dos processos administrativos de inexigibilidade de licitação, os quais deverão conter a devida justificativa de que o preço ofertado à administração é condizente com o praticado pelo mercado, em especial por meio de (i) documentos fiscais ou contratos de objetos idênticos[7], comercializados pela futura contratada, emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data da autorização da inexigibilidade pela autoridade competente; e de (ii) tabelas de preços vigentes divulgadas pela futura contratada em sites especializados ou de domínio amplo, contendo data e hora de acesso.
Trata-se de parâmetros exemplificativos, tendo em vista que o § 1º do artigo 7º dispõe que “Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.”.
Está aí mais uma prova de que a IN 73/2020 surgiu também para conferir mais formalidade ao procedimento de pesquisa de preços, prezando pelo registro e formalização dos procedimentos nos autos do processo administrativo – o que, evidentemente, confere mais transparência ao processo de contratação pública e, inclusive, maior segurança ao gestor, que poderá, caso necessário, comprovar as boas práticas adotadas e evidenciar a sua atuação de boa-fé.
Frise-se que, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto em momento anterior, a justificativa de preço poderá ser realizada por meio de objetos de mesma natureza (objetos similares). E mais: a IN 73/2020 esclarece que esse procedimento, previsto no caput às hipóteses de inexigibilidade, também se aplica, no que couber, às hipóteses de dispensa de licitação, em especial as previstas nos incisos III, IV, XV, XVI e XVII do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)[8].
A IN 73/2020 deixa claro, também, que, se a justificativa de preços indicar a possibilidade de competição no mercado, a inexigibilidade não poderá ser realizada pela administração. Nesse ponto, vale fazer um registro: a pluralidade de prestadores de serviços ou fornecedores nem sempre corresponde à viabilidade de competição, havendo exceções como as previstas no artigo 25, incisos II e III da Lei nº 8.666/1993[9].
Torna-se evidente, portanto, a finalidade e a importância de do procedimento de pesquisa de preços. Isto é, para além da orçamentação dos preços a serem pagos pela administração, o procedimento de pesquisa também se presta para verificar se o processo de contratação pública deve ser levado a cabo por meio de licitação ou de contratação direta. Assim, entende-se que andou bem a IN 73/2020 ao prever expressamente essa vedação à inexigibilidade de licitação quando da verificação da viabilidade de competição.
Por fim, em suas disposições finais (artigo 10), a IN 73/2020 prevê que o preço máximo a ser praticado na contratação poderá assumir valor distinto do preço estimado na pesquisa de preços feita, mas desde que haja justificativa para o acréscimo ou subtração de percentual e que sejam observadas a atratividade do mercado e a mitigação de risco de sobrepreço, sendo vedada a adoção de qualquer critério estatístico ou matemático que incida a maior sobre os preços máximos.
Em linhas gerais, portanto, a IN 73/2020 surgiu para aprimorar o procedimento de pesquisa de preços no âmbito do Poder Executivo Federal, conferindo mais formalidade a essa fase tão essencial ao processo de contratação pública, cuja existência de falhas, não raramente, é responsável por gerar inúmeros problemas posteriores à administração pública e aos contratados.
[1] Advogado no escritório Schiefler Advocacia. Mestrando em Direito pela Universidade de Brasília (UnB). Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Integrante do Grupo de Estudos em Direito Público (GEDIP/UFSC). Integrante do Grupo de Pesquisa em Direito, Racionalidade e Inteligência Artificial (DRIA.UnB). Autor do livro “Processo Administrativo Eletrônico” (2019) e de artigos acadêmicos, especialmente na área de Direito Administrativo e Tecnologia.
[2] Estagiário no escritório Schiefler Advocacia. Graduando em Direito pela Rede de Ensino Doctum. Integrante da Associação Internacional de Advogados e Estudantes LawTalks.
[3] Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836. Acesso em 10 ago. 2020.
[4] A pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo da licitação não pode ter como único foco propostas solicitadas a fornecedores. Ela deve priorizar os parâmetros disponíveis no Painel de Preços do Portal de Compras do Governo Federal e as contratações similares realizadas por entes públicos, em observância à IN-SLTI 5/2014. (Boletim de Jurisprudência nº 213 de 23/04/2018 – Acórdão 718/2018, Plenário. Relator Ministro André de Carvalho, julgado em 04/04/2018)
[5] Sobre os diálogos público-privados, recomenda-se a leitura da obra Diálogos público-privados, de Gustavo Henrique Carvalho Schiefler: SCHIEFLER, Gustavo Henrique Carvalho. Diálogos público-privados. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.
[6] Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/governo-debate-com-sociedade-implantacao-de-marketplace-para-compras-publicas. Acesso em 10 ago. 2020.
[7] Como se verá adiante, a justificativa de preço poderá ser realizada mediante objetos de mesma natureza, ou seja, similares (e não idênticos), nas hipóteses em que a futura contratada não tenha comercializado previamente o objeto.
[8] Art. 24. É dispensável a licitação: […]
III – nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;
IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; […]
XV – para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.
XVI – para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;
XVII – para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;
[9] Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: […]
II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
III – para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
Read MorePara além da participação do Gustavo como especialista, tanto ele como o advogado Eduardo Schiefler propuseram enunciados que foram selecionados para debate nas comissões de trabalho.
 Está ocorrendo nesta semana a I Jornada de Direito Administrativo, promovido pelo Conselho da Justiça Federal, que tem por objetivo a produção e discussão de enunciados que visam à delineação interpretativa sobre o Direito Administrativo, a fim de adequá-la às inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. A Jornada está sendo coordenada pela Min. Assusete Magalhães (STJ), Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto (TSE), Prof. Cesar Augusto Guimarães Pereira e pelo Juiz Federal Daniel Marchionatti Barbosa.
Está ocorrendo nesta semana a I Jornada de Direito Administrativo, promovido pelo Conselho da Justiça Federal, que tem por objetivo a produção e discussão de enunciados que visam à delineação interpretativa sobre o Direito Administrativo, a fim de adequá-la às inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. A Jornada está sendo coordenada pela Min. Assusete Magalhães (STJ), Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto (TSE), Prof. Cesar Augusto Guimarães Pereira e pelo Juiz Federal Daniel Marchionatti Barbosa.
Amanhã (quinta-feira), acontecerão os debates nas comissões temáticas e o advogado Gustavo Schiefler participará como especialista convidado da comissão “Licitações, Contratos Administrativos, Concessões e Parcerias Público-Privadas“, coordenada pelo Desembargador Federal João Batista Moreira e pelos Profs. Eduardo Jordão e Joel de Menezes Niebuhr.
Para além da participação do Gustavo como especialista, tanto ele como o advogado Eduardo Schiefler propuseram enunciados que foram selecionados para debate nas comissões de trabalho.
Por essa razão, o advogado Eduardo Schiefler participará da comissão “Regime jurídico administrativo, Poderes da administração, Ato administrativo, Discricionariedade, Agentes públicos e Bens públicos“, coordenada pelo Ministro Benedito Gonçalves (STJ) e pelos Profs. Fabricio Macedo Motta e Juliana Bonacorsi de Palma.
Os enunciados aprovados nas comissões temáticas serão levados à reunião plenária para aprovação, que acontecerá no dia 7 de agosto (sexta-feira).
Gustavo Schiefler – Advogado. Doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre e graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Educação Executiva pela Harvard Law School (Program on Negotiation). Pesquisador Visitante no Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, em Hamburgo (Alemanha).
Eduardo Schiefler – Advogado no escritório Schiefler Advocacia. Mestrando em Direito pela Universidade de Brasília (UnB). Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Integrante do Grupo de Estudos em Direito Público (GEDIP/UFSC). Integrante do Grupo de Pesquisa em Direito, Racionalidade e Inteligência Artificial (DRIA.UnB). Autor do livro “Processo Administrativo Eletrônico” (2019) e de artigos acadêmicos, especialmente na área de Direito Administrativo e Tecnologia.
Read More