
ConJur: PECs em tramitação no Congresso propõem autonomia funcional para a advocacia pública
Confira Gustavo Schiefler no ConJur
.
Read More
0

ConJur: O uso de IA generativa pela administração pública
Confira Gustavo Schiefler no ConJur
.
Read More
0
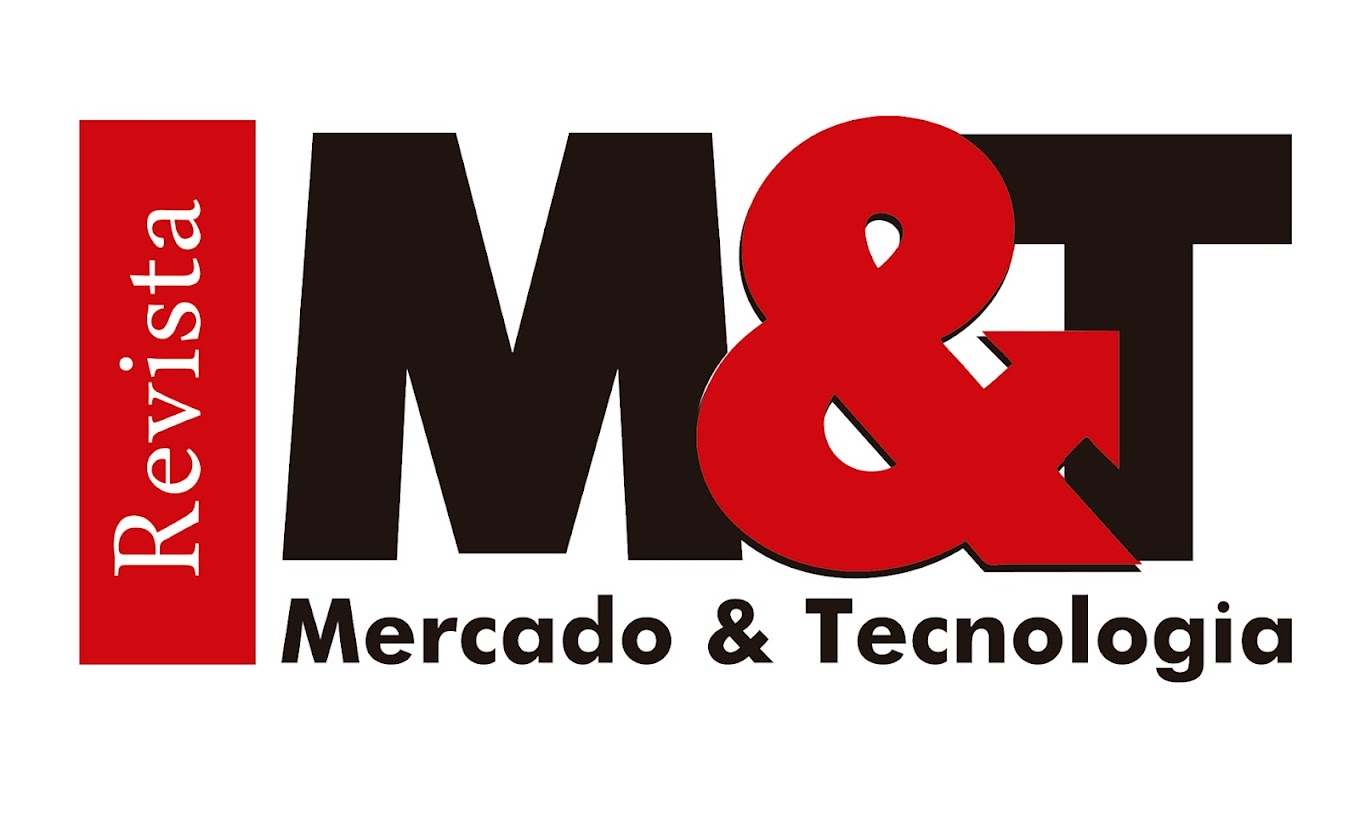
Revista MT: A importância dos contratos em edificações industriais
Confira Gustavo Schiefler no ConJur
.
Read More
0

ConJur: O papel do TCU nos acordos de leniência anticorrupção
Confira Eduardo Martins no ConJur
.
Read More
0

ConJur: (Ir)retroatividade da nova LIA à luz das cortes de direitos humanos
Confira Eduardo Martins no ConJur
.
Read More
0

ConJur: Venda de nomes de prédios públicos de SP não se choca com a Lei Cidade Limpa
Confira Gustavo Schiefler no ConJur
.
Read More
0

ConJur: Apreciação constitucional pelo TCU é válida, mas controle excessivo gera temor
Confira Gustavo Schiefler no ConJur
.
Read More
0

ConJur: Mecanismos para a inovação em contratos e processos de empresas estatais
Confira Gustavo Schiefler no ConJur
.
Read More
0
InfoMoney: Projeto de lei quer permitir títulos de capitalização como garantia de obras públicas
Confira Eduardo Schiefler no InfoMoney
.
Read More
0

ConJur: Proposta da PGR sobre dever de revelação pode reduzir contestações judiciais
Confira Murillo Preve no ConJur
.
Read More
0
