Walter passa a integrar o corpo de advogados da Unidade de Direito Administrativo.
 A nossa equipe continua crescendo. É com muita felicidade que anunciamos o advogado Walter Marquezan Augusto como o novo colaborador da Unidade de Direito Administrativo do escritório Schiefler Advocacia, e nos brindará com a sua compreensão distinta sobre Direito Econômico, contratações públicas, servidores públicos e concursos públicos.
A nossa equipe continua crescendo. É com muita felicidade que anunciamos o advogado Walter Marquezan Augusto como o novo colaborador da Unidade de Direito Administrativo do escritório Schiefler Advocacia, e nos brindará com a sua compreensão distinta sobre Direito Econômico, contratações públicas, servidores públicos e concursos públicos.
Walter Marquezan Augusto é Doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo (USP), com tese de doutoramento intitulada “Direito Econômico das Ferrovias: análise do processo de desestatização das ferrovias federais brasileiras durante a década de 1990”. É Mestre em Teoria, História e Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
Em sua trajetória acadêmica e profissional, Walter também foi bolsista de Doutorado-Sanduíche (CAPES-DAAD) para um período de pesquisa no Institut für Öffentliches Recht und Politik na Westfälische Wilhelms-Universität em Münster (Alemanha). Também é autor de artigos acadêmicos na área de Direito Econômico e Economia Política, com ênfase no tema de Infraestrutura e Ferrovias.
Seja bem-vindo, Walter, é uma honra poder contar com você no escritório Schiefler Advocacia!
Read More
Murillo passa a integrar o corpo de advogados da Unidade de Direito Administrativo.
 É com enorme alegria que anunciamos o advogado Murillo Preve Cardoso de Oliveira como advogado do escritório Schiefler Advocacia. Murillo passa a integrar o corpo de advogados da Unidade de Direito Administrativo, somando conhecimento técnico e experiência aos serviços prestados nas áreas de contratações públicas, servidores públicos e concursos públicos.
É com enorme alegria que anunciamos o advogado Murillo Preve Cardoso de Oliveira como advogado do escritório Schiefler Advocacia. Murillo passa a integrar o corpo de advogados da Unidade de Direito Administrativo, somando conhecimento técnico e experiência aos serviços prestados nas áreas de contratações públicas, servidores públicos e concursos públicos.
Murillo Preve Cardoso de Oliveira é advogado; árbitro da CAMESC e da Câmara de Conciliação de Santa Catarina; mestrando em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR); graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e agraciado com o Prêmio Alumni ’32 Envolvimento com a UFSC, tanto pelo seu destaque no movimento estudantil, como pelas atividades enquanto presidente do Centro Acadêmico XI de Fevereiro (CAXIF), bem como por seu desempenho em competições de debates e arbitragem representando a UFSC.
O seu Trabalho de Conclusão de Curso “Responsabilidade Civil do Estado pela Exposição Abusiva de Investigados na Mídia” recebeu o primeiro lugar no concurso de monografias do II Congresso de Direito Administrativo do IDARJ. Murillo também foi Campeão do IV Campeonato Brasileiro de Debates, realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e é autor de artigos acadêmicos na área de Arbitragem envolvendo a Administração Pública.
Read More
Aquele que deseja empreender sozinho, sem sócios, no Brasil, possui basicamente três opções: tornar-se empresário individual, abrir uma EIRELI ou constituir uma sociedade limitada unipessoal.
 Marcelo John Cota de Araújo Filho[1]
Marcelo John Cota de Araújo Filho[1]
O risco inerente ao exercício de uma atividade empresarial é algo que causa muita preocupação àqueles que se sentem inseguros em empreender com um sócio. A possibilidade de discordância sobre alguma estratégia de negócios específica e o receio da formação de desavenças pessoais pela diferença de ideias são exemplos que levam muitos a optarem por desenvolver um empreendimento sem a participação de outras pessoas.
Aquele que deseja empreender sozinho, sem sócios, no Brasil, possui basicamente três opções: tornar-se empresário individual, abrir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) ou constituir uma sociedade limitada unipessoal. Cada uma das alternativas possui especificidades que podem ser vistas como vantagens ou como desvantagens, cabendo ao empreendedor decidir qual a melhor solução para o modelo de negócio que deseja desenvolver.
Essas especificidades serão abordadas a seguir, por meio do detalhamento das características de cada alternativa e das considerações pertinentes que devem orientar a decisão do empreendedor.
O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
Empresário individual é a pessoa física que exerce, em nome próprio, uma atividade empresarial. Isto é, empresário individual é a pessoa natural que desenvolve, com seus próprios recursos, seu empreendimento.
Uma característica marcante dessa modalidade é a responsabilidade ilimitada e direta do empresário individual, que responde por todas as dívidas contraídas com o seu patrimônio pessoal. Como não há uma pessoa jurídica à frente da atividade desenvolvida, não existe a hipótese de separação patrimonial, de forma que o patrimônio da pessoa física responde direta e ilimitadamente por quaisquer dívidas oriundas do exercício da empresa.
Apesar de essa característica ser vista como uma grande desvantagem, essa modalidade de empresário possui uma característica vantajosa para pequenos empreendimentos: a possibilidade de enquadramento como MEI (Microempreendedor Individual), que tem um procedimento de registro simples e um regime de tributação muito mais brando se comparado às outras modalidades de empresário.
Com efeito, o Microempreendedor Individual é isento de tributos fiscais federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL), devendo pagar apenas um valor fixo mensal, que corresponde a uma contribuição para o INSS e ao pagamento do ICMS ou ISS. Esse valor mensal, para o ano de 2020, equivale à quantia de R$ 53,25 para atividades relacionadas ao comércio e indústria, R$ 57,25 para atividades relacionadas a serviços e R$ 58,25 para atividades relacionadas ao comércio e serviços. No entanto, cumpre ressaltar que o MEI é uma categoria que se restringe a atividades mais simples, sobretudo por possuir um limite de faturamento bruto anual baixo, no valor de R$ 81 mil.
Embora seja comum confundir a figura do empresário individual com a do microempreendedor individual, eles são institutos distintos. Ser empresário individual é um requisito necessário para configurar-se como MEI, mas esse enquadramento só é possível se o empresário individual não ultrapassar o limite de faturamento anual de R$ 81 mil.
Diante do exposto, conclui-se que a opção de empreender sozinho através da roupagem de empresário individual só é conveniente para pequenos negócios. A grande vantagem para o empreendedor dessa modalidade reside na possibilidade de enquadrar-se como MEI, mas, caso esse enquadramento não seja possível, a responsabilidade direta e ilimitada do empresário individual, que faz com que seus bens pessoais possam responder pelas dívidas oriundas do exercício da empresa, é um motivo mais que suficiente para que o empreendedor busque outra alternativa para iniciar sua empresa.
A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Integrada ao ordenamento jurídico brasileiro com a Lei nº 12.411/11, por muito tempo a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) foi a única alternativa para aqueles que desejavam exercer atividade empresarial sozinhos e, ao mesmo tempo, gozar do instituto da separação patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica.
A EIRELI é uma pessoa jurídica tutelada pelo artigo 980-A do Código Civil e rege-se, no que couber, pelas mesmas regras aplicadas às sociedades limitadas[2]. Isso significa que a EIRELI proporciona ao seu titular a mesma blindagem patrimonial que uma sociedade limitada oferece ao seu sócio, ou seja, existe uma separação patrimonial, de maneira que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio da pessoa física.
Dessa forma, é certo dizer que a pessoa física que constituiu uma EIRELI limita sua responsabilidade ao capital investido para a formação da pessoa jurídica.
Ocorre que, no caso da EIRELI, há a imposição de um capital social mínimo de 100 salários mínimos para a sua constituição. Esse requisito mínimo pode ser visto como uma desvantagem principalmente para empreendedores iniciantes e que não possuem grande poder econômico, pois necessitariam de um investimento inicial elevado para poder exercer sua atividade empresarial devidamente.
Além disso, outra grande ressalva a se fazer sobre a EIRELI é que a pessoa natural que a constitui só pode ser titular de uma única pessoa jurídica desse tipo. Isso representa uma barreira principalmente para empreendedores mais dinâmicos e ousados, que têm o desejo de exercer atividades empresariais em mais de um ramo econômico, pois só poderiam ser titulares de uma única EIRELI, inviabilizando a constituição de outra pessoa jurídica desse tipo para desenvolver empresas distintas.
Assim, em que pese a EIRELI proporcionar a separação patrimonial, de forma que, ressalvados os casos de fraude[3], somente o patrimônio da pessoa jurídica será responsável pelas dívidas decorrentes do exercício da atividade empresarial, as restrições ligadas à constituição dessa pessoa jurídica podem estabelecer entraves a determinados empreendedores, sobretudo àqueles que não possuem condições de fazer um investimento inicial na monta de 100 salários mínimos e àqueles que possuem a pretensão de exercer diversas empresas.
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
Possibilidade existente desde a promulgação da Lei nº 13.874/2019, também conhecida como Lei da Liberdade Econômica, a Sociedade Limitada Unipessoal também representa uma alternativa para quem deseja empreender sozinho no Brasil.
Tratando-se de pessoa jurídica, a sociedade limitada unipessoal também promove a separação patrimonial entre o patrimônio da sociedade (pessoa jurídica) e o patrimônio pessoal do sócio (pessoa física), isto é, os bens pessoais do sócio não responderão pelas dívidas contraídas pela sociedade.
Como os patrimônios da pessoa física e da pessoa jurídica não se comunicam, é possível dizer que o sócio responderá de forma subsidiária[4] e limitada pelas obrigações sociais. Ou seja, quem responde por essas obrigações é a própria sociedade, com seus próprios bens, de forma que os bens particulares do sócio estão, em princípio, resguardados.
Vale ressaltar que essa blindagem patrimonial não é absoluta, existindo a possibilidade de responsabilização pessoal do sócio em caso de abuso da personalidade jurídica, hipótese configurada quando o sócio utiliza a sociedade para cometer irregularidades envolvendo o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou para promover uma confusão patrimonial com o intuito de ocultar os próprios bens. Nesses casos, pode ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica, responsabilizando-se diretamente o patrimônio do sócio pelas irregularidades cometidas[5].
Portanto, ressalvados os casos de abuso, a sociedade limitada unipessoal retrata uma opção viável para a proteção patrimonial da pessoa que deseja empreender de forma a diminuir os riscos inerentes ao exercício da atividade empresarial no Brasil. Fornecendo blindagem patrimonial mas não se prendendo a restrições como ocorre no caso da EIRELI, a sociedade limitada unipessoal representa um grande avanço legislativo pátrio na área do Direito Empresarial, possibilitando aos mais diversos tipos de empreendedores o exercício adequado da atividade empresarial.
CONCLUSÃO
O desejo de empreender é latente a muitos cidadãos brasileiros, independente das condições de vida e esfera social em que estão inseridos. Do pequeno ao grande empreendedor, a possibilidade de exercer uma atividade empresarial sozinho deve ser avaliada em conformidade com as condições concretas do empreendedor e com a expressividade da atividade que ele pretende desenvolver, cabendo-lhe, assim, selecionar a alternativa mais viável entre as existentes para o seu modelo de negócios.
[1] Estagiário de Direito no escritório Schiefler Advocacia. Bacharelando em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Membro do grupo de extensão Inteligência Jurídica (UFU). Ex-assessor de presidência e ex-consultor de Negócios da Magna Empresa Júnior, além de ex-representante discente do Conselho da Faculdade de Direito (CONFADIR) da UFU.
[2] Art. 980-A. […] § 6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.
[3] Art. 980-A. […] § 7º Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.
[4] A responsabilidade subsidiária surge na hipótese em que o sócio ainda não integralizou todo o capital social subscrito, estando limitada a esse valor subscrito mas ainda não integralizado.
[5] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
Read MorePor mais que muitas normas e conceitos estabelecidos pela CLT não façam sentido dentro do modelo de negócios inovador e disruptivo das startups, essas empresas continuam legalmente obrigadas pelas normas trabalhistas aplicáveis a qualquer outra empresa.
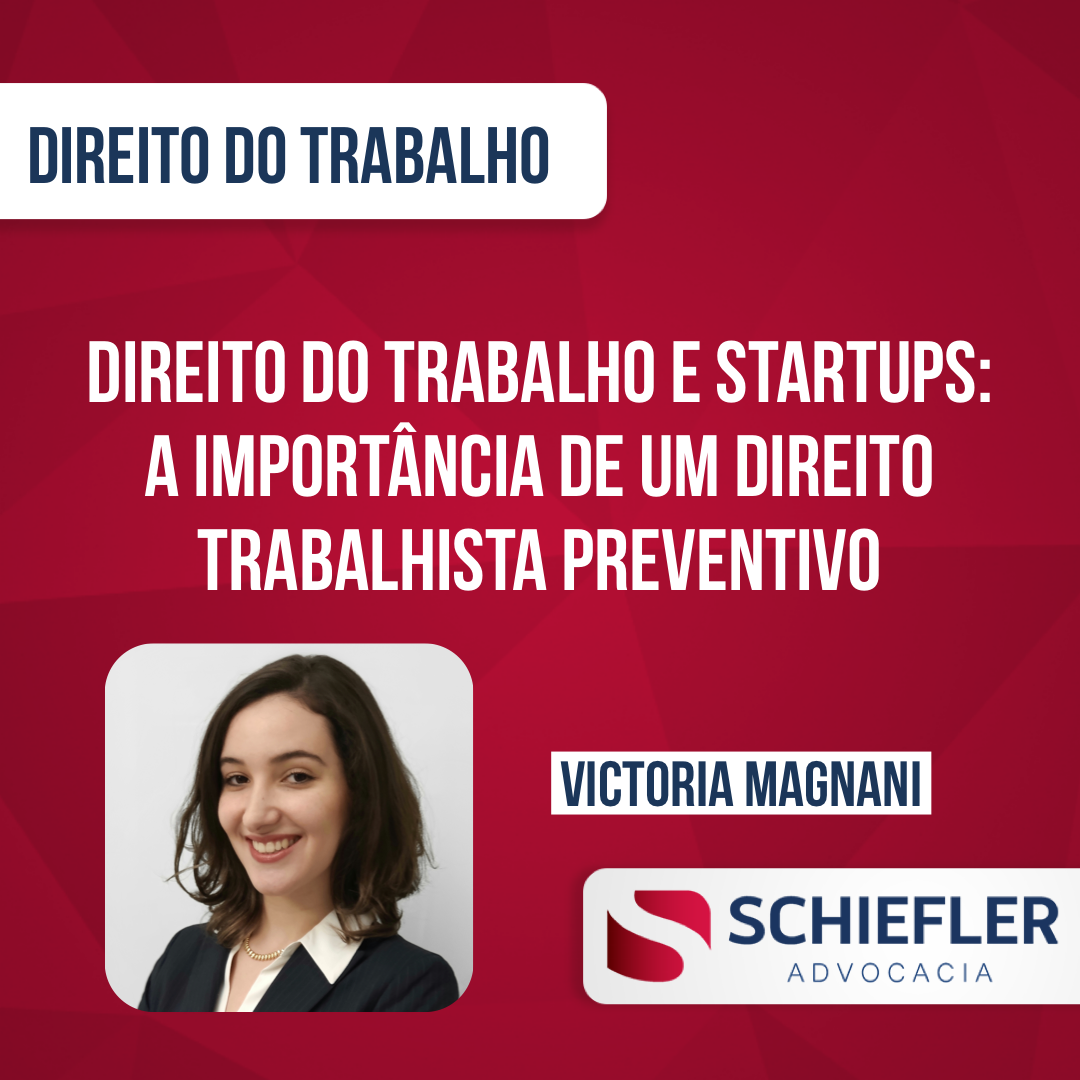 Victoria Magnani[1]
Victoria Magnani[1]
As chamadas startups, empresas ligadas à inovação que se encontram em estágio inicial de desenvolvimento, podem ser definidas como empresas de perfil inovador cujo modelo de negócios se caracteriza como repetível e escalável, além de ser marcado por um cenário de extrema incerteza. Essas empresas têm como característica, além do fator inovação, um potencial de crescimento exponencial associado a baixos investimentos, bem como uma ampla flexibilidade no que diz respeito às noções tradicionais associadas ao direito trabalhista.
Devido a essa dinâmica única, típica do ambiente das startups[2], surge uma série de embates com os conceitos trabalhistas “tradicionais” previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), diploma legal que muitas vezes se mostra insuficiente para lidar com a prática do dia a dia dessas empresas.
Apesar do modelo de negócios marcado pelo alto risco e instantaneidade, a preocupação trabalhista não pode ser deixada em segundo plano, visto que eventual irregularidade na contratação e gestão da equipe pode gerar diversas consequências graves para as startups, que vão desde multas oriundas de órgãos fiscalizadores até reclamações trabalhistas, impactando a imagem da empresa e, consequentemente, o seu financiamento.
Embora o Direito do Trabalho não possua grande incidência nas startups early stage[3], conforme as empresas vão crescendo e se desenvolvendo as questões trabalhistas tornam-se cada vez mais presentes em sua realidade. Assim, para as startups que se encontram em growth stage[4] é essencial tratar as questões relacionadas ao Direito do Trabalho de forma adequada, uma vez que, caso estas sejam mal conduzidas, o surgimento de um eventual passivo trabalhista pode vir a prejudicar a própria captação de recursos externos nas próximas rodadas de investimento.
Nesse sentido, é importante destacar que, apesar de possuírem um modelo de negócios distinto daquele atribuído às empresas “tradicionais”, as startups não possuem tratamento normativo diferenciado, estando sujeitas à mesma legislação trabalhista que as demais empresas.
Vale dizer que, por mais que muitas normas e conceitos estabelecidos pela CLT não façam sentido dentro do modelo de negócios inovador e disruptivo das startups (tipicamente marcado pela instantaneidade e flexibilidade), essas empresas continuam legalmente obrigadas pelas normas trabalhistas aplicáveis a qualquer outra empresa.
É nesse panorama que acabam surgindo alguns riscos trabalhistas derivados do próprio modelo de negócios das startups, principalmente aqueles relacionados à contratação e gerenciamento dos colaboradores. A título de exemplo, é possível citar a celebração de contratos de prestação de serviços e a contratação de pessoas jurídicas[5], duas alternativas que se popularizaram no ambiente das startups justamente por se adequarem ao baixo orçamento dessas empresas e não envolverem tantas formalidades para sua realização, mas que podem ocasionar inúmeros problemas na Justiça do Trabalho caso não sejam executados de maneira correta.
Logo, a contratação dos diversos colaboradores da startup, seja por meio de contratos de prestação de serviços, contratos celebrados com pessoas jurídicas ou mesmo os contratos de vesting[6], deve ser elaborada em consonância com a legislação, a fim de minimizar riscos trabalhistas e eventuais ilegalidades.
Por que pensar preventivamente?
Uma boa prevenção de demandas trabalhistas traz inúmeras vantagens competitivas, pois, além da significativa redução de custos, a melhoria do meio ambiente de trabalho por meio do aperfeiçoamento da estrutura organizacional reflete diretamente na produtividade da empresa, influenciando no seu faturamento. Além disso, esses atributos são interessantes para atrair investidores, uma vez que estes certamente irão priorizar startups que, além de oferecerem menos riscos, também trazem o melhor retorno para o seu capital.
[1] Graduanda em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente cursando a oitava fase. Foi bolsista do Programa de Educação Tutorial – PET Direito UFSC de 2017 a 2019, e atualmente desenvolve pesquisa de iniciação científica no campo do Direito Ambiental do Trabalho como bolsista voluntária do Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC UFSC.
[2] FEIGELSON, Bruno; NYBØ, Erik Fontenele; FONSECA, Victor Cabral. Direito das Startups. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.
[3] Como são chamadas as startups em estágio inicial de desenvolvimento.
[4] As startups em growth stage são aquelas que, depois de terem provado seu valor no mercado e obtido financiamento, estão no processo de crescimento, tentando escalar seu produto. O foco não é mais simplesmente na inovação, mas em expandir o produto já existente e aprovado pelo mercado.
[5] Fenômeno conhecido como “pejotização”.
[6] O contrato de vesting consiste em uma promessa de participação societária, estabelecida com colaboradores estratégicos com vistas a estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da startup (FEIGELSON; NYBO; FONSECA, 2018).
E mais: “o Vesting, entre outras hipóteses, consiste em um Contrato de opção de aquisição de participação societária, de forma gradual, mediante cumprimento de metas em/ou dado período de tempo.” (MAY, Pedro Henrique. O Contrato de Vesting no sistema societário brasileiro e a sua aplicabilidade em startups constituídas na forma de sociedade limitada. Monografia (graduação) – Curso de Graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, 2018. p. 42).
Read MoreO descuido nessas questões pode levar a uma série de problemas práticos, que vão desde o ajuizamento de processos trabalhistas até a própria diminuição da produtividade da empresa
 Victoria Magnani[1]
Victoria Magnani[1]
Velha conhecida dos trabalhadores e empresas, a prática das “horas extras” é uma das situações mais comuns que ocorrem no contexto das relações trabalhistas em geral. Apesar de ser um tema conhecido, a possibilidade de se realizar a compensação de horários ou a existência de “banco de horas” pode acabar gerando dúvidas na hora de fazer a distinção entre aquelas horas passíveis de compensação e as horas extras propriamente ditas.
Algumas dúvidas que podem surgir nesse sentido são:
- Quando é devido o pagamento das horas extras?
- Em que situações é possível realizar a compensação de jornada?
- O que é e quando pode ser utilizado o “banco de horas”?
As perguntas são pertinentes, pois o descuido nessas questões pode levar a uma série de problemas práticos, que vão desde o ajuizamento de processos trabalhistas até a própria diminuição da produtividade da empresa, uma vez que jornadas de trabalho extenuantes podem gerar desmotivação e uma baixa no rendimento dos colaboradores.
Neste texto, serão abordados os conceitos e as principais diferenças entre as horas extras, o acordo de compensação de jornada e o banco de horas, bem como as situações em que é possível realizar os acordos de compensação e de que forma isso deve ser feito.
PRIMEIRO: O QUE SÃO AS “HORAS EXTRAS”?
As horas extras, também conhecidas como horas suplementares ou extraordinárias, são aquelas que ultrapassam a jornada normal do empregado. A jornada normal, por sua vez, é aquela prevista na lei, no acordo ou convenção coletiva de trabalho (se houver) ou no próprio contrato de trabalho do empregado. Quando é excedida a duração normal da jornada, o empregado tem direito, a princípio, à remuneração das horas extras, que serão acrescidas de um percentual mínimo de 50% sobre o valor da “hora normal” de trabalho.
A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) permite a realização de horas extras em três casos:
- Quando há acordo de prorrogação;
- Quando existe um sistema de compensação; e
- Na presença de uma “necessidade imperiosa”, como, por exemplo, uma situação de força maior ou a conclusão de serviços inadiáveis.
Neste artigo, serão abordados os dois primeiros casos, que dizem respeito ao acordo de prorrogação de horas de trabalho e à compensação de horários.
NO QUE CONSISTE O ACORDO DE PRORROGAÇÃO DE HORAS DE TRABALHO?
O acordo de prorrogação de horas extras é o ajuste firmado entre empregado e empregador no sentido de possibilitar a extensão da duração diária do trabalho em virtude de circunstâncias excepcionais. Esse “ajuste” pode se dar por meio de acordo individual, que pode ser escrito, verbal ou até mesmo tácito; ou por acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Esse acordo de prorrogação tem como consequência a produção das horas extras propriamente ditas, limitadas ao número de 2 horas suplementares por dia, que deverão ser acrescidas pelo percentual mínimo de 50% sobre a remuneração da hora normal[2]. O percentual de 50% pode ser aumentado por contrato de trabalho individual ou coletivo, mas nunca diminuído!
A CLT estabelece, porém, que não será devido o adicional de horas extras quando tiver sido instituído entre as partes um acordo de compensação de jornada[3]. Esse tipo de compensação é bastante visto na prática, mas a sua realização sem que sejam observadas as regras para a instituição de acordo de compensação de jornada pode gerar diversos problemas para as empresas, inclusive demandas trabalhistas.
ENTÃO, COMO INSTITUIR A COMPENSAÇÃO DE JORNADA?
A Constituição Federal[4] autoriza expressamente a compensação de jornada, que consiste na distribuição das horas trabalhadas em um dia pelos demais dias da semana, mês ou ano, a depender do tipo de acordo. Assim, o adicional de horas extras não será devido quando o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia.
A compensação de jornada pode ser ajustada por acordo coletivo, convenção coletiva ou acordo individual escrito, desde que não haja, no caso deste último, norma coletiva que proíba a sua instituição. Nesse sentido, destaca-se que a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) trouxe a possibilidade de se estabelecer regime de compensação de jornada por meio acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês[5].
Apesar de não haver previsão legal expressa quanto ao limite máximo de horas por jornada para fins de compensação, os tribunais brasileiros possuem entendimento no sentido de limitar as compensações até a carga horária máxima semanal, que é de 44 horas por semana (art. 7º, inciso XIII da Constituição Federal).
O acordo de prorrogação de jornada produz as chamadas horas complementares, que são horas meramente compensatórias, pois serão realocadas conforme a programação do empregado e, por isso, não serão acrescidas de qualquer adicional.
E O “BANCO DE HORAS”?
O “banco de horas” é, na verdade, uma espécie de compensação de jornada, que possui sistema próprio previsto na CLT[6]. O banco de horas autoriza a prestação de jornada extraordinária até o limite de 10 horas diárias, sem que seja devido adicional a título de horas extras. As horas excedentes da jornada normal são, então, lançadas num “banco”, e ali serão acumuladas com o fim de, no futuro, serem trocadas por folgas compensatórias.
É preciso atentar, contudo, para os limites estabelecidos para o banco de horas: segundo as regras da CLT, o excesso de horas em um dia deverá ser compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não seja extrapolada, no período de 1 ano, a soma das jornadas semanais previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Entende-se como “soma das jornadas semanais previstas” a carga horária máxima semanal, prevista em lei ou no contrato, multiplicada pelo número de semanas existentes no ano.
A instituição de banco de horas pode ser ajustada por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, hipótese na qual a compensação deverá ocorrer no período de até 1 ano; ou por acordo individual escrito, cujo prazo para compensação passa a ser de 6 meses (nesse caso, a acumulação de horas fica limitada, também, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas para 6 meses).
É importante lembrar, ainda, que as horas trabalhadas que excederem o limite máximo de 10 horas diárias não podem integrar o banco de horas, devendo ser remuneradas como horas extras, com o respectivo adicional!
O quadro comparativo abaixo apresenta as principais diferenças entre a prorrogação de horas de trabalho (ou horas extras propriamente ditas), a compensação de jornada e o banco de horas:
| Prorrogação de horas | Compensação de jornada | Banco de horas | |
|
Conceito
|
Ajuste que permite a extensão da duração diária do trabalho |
Ajuste que permite que o excesso de horas em determinado dia seja compensado pela diminuição de horas em outro
|
Espécie de compensação de jornada na qual as horas excedentes da jornada normal são lançadas no “banco” e acumuladas para serem trocadas por folgas eventuais |
|
Previsão legal |
Art. 59 da CLT; art. 7º, XVI da Constituição | Art. 7º, XIII da Constituição; art. 59, § 6º da CLT | Art. 59, §§ 2º e 5º da CLT |
|
Tipo de acordo
|
Acordo individual (escrito, verbal ou tácito), acordo coletivo ou convenção coletiva |
Acordo coletivo ou convenção coletiva. No acordo individual (escrito ou tácito) a compensação deve se dar no mesmo mês! | Acordo coletivo ou convenção coletiva (até 1 ano para compensar); acordo individual escrito (até 6 meses) |
|
Consequências
|
Produz horas suplementares (“horas extras”), que deverão ser acrescidas de pelo menos 50% sobre o valor da hora normal | Produz horas complementares, que serão realocadas → não é devido qualquer adicional | Produz horas complementares que serão lançadas no banco de horas |
|
Limites
|
Até 2 horas extras por dia, totalizando 10 horas diárias |
Não pode exceder a carga horária máxima semanal (44 horas) |
Não pode ultrapassar, no período de 1 ano ou 6 meses (a depender do acordo), a soma das jornadas semanais previstas, respeitado o limite máximo de 10 horas diárias |
[1] Victoria Magnani – Graduanda em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Bolsista voluntária do Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC UFSC no campo do Direito Ambiental do Trabalho. Membro do Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente, Trabalho e Sustentabilidade – GP METAS.
[2] Art. 59 da CLT e artigo 7º, inciso XVI da Constituição Federal.
[3] Art. 59, § 2º da CLT.
[4] Art. 7º, inciso XIII da Constituição Federal.
[5] Art. 59, § 6º da CLT.
[6] Art. 59, §§ 2º e 5º da CLT.
Read MoreCaso aprovado, o PL 4.044/2020 pode significar uma grande transformação na regulamentação trabalhista associada com as novas tecnologias.
 Está em tramitação um novo projeto de lei que visa a regulamentar o direito à desconexão, que consiste, em suma, no direito que tem o trabalhador de não ser obrigado a se manter “conectado” fora de seu horário de expediente, bem como de não ter interrompidos os seus intervalos de descanso e férias. O direito à desconexão visa, principalmente, a preservar a integridade física e mental do empregado, de forma que lhe seja permitido verdadeiramente se “desligar” daquilo que tem relação com seu trabalho fora do horário de expediente.
Está em tramitação um novo projeto de lei que visa a regulamentar o direito à desconexão, que consiste, em suma, no direito que tem o trabalhador de não ser obrigado a se manter “conectado” fora de seu horário de expediente, bem como de não ter interrompidos os seus intervalos de descanso e férias. O direito à desconexão visa, principalmente, a preservar a integridade física e mental do empregado, de forma que lhe seja permitido verdadeiramente se “desligar” daquilo que tem relação com seu trabalho fora do horário de expediente.
O PL 4.044/2020, proposto pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES), busca regulamentar o direito à desconexão, estabelecendo expressamente que o empregador não poderá solicitar a atenção de um empregado em regime de teletrabalho, seja por telefone ou por qualquer outra ferramenta de comunicação eletrônica, como WhatsApp, Telegram e outros aplicativos semelhantes, fora do horário de expediente.
O projeto estabelece, ainda, que acordos ou convenções coletivas poderão admitir exceções em casos fortuitos ou de força maior. Porém, caso isso ocorra, o tempo de trabalho realizado pelo empregado nessas circunstâncias será considerado como horas extras. Algumas outras disposições no texto normativo dizem respeito ao empregado em gozo de férias, que deverá ser excluído dos grupos de mensagens do trabalho e remover de seus dispositivos eletrônicos pessoais quaisquer aplicativos voltados exclusivamente para uso no trabalho.
O direito à desconexão não é tema novo no Brasil. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência trabalhistas já vêm abordando a temática nos últimos anos, existindo, inclusive, precedentes relevantes do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) que reconhecem o direito ao pagamento de danos morais por desrespeito ao direito de desconexão do empregado.
Entretanto, a regularização da questão mediante a edição de legislação específica voltada à proteção do direito à desconexão do trabalho, que delimite, de forma objetiva, como esse ato se configura e quais as suas consequências, se traduz em um marco legislativo importante, sobretudo no atual contexto de crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19, em que muitas empresas se viram obrigadas a colocar seus colaboradores em regime de teletrabalho bruscamente, sem realizar as devidas adequações ao modelo.
Nesse sentido, caso aprovado, o PL 4.044/2020 pode significar uma grande transformação na regulamentação trabalhista associada com as novas tecnologias, delimitando conceitos e traçando diretrizes objetivas para a atuação dos sujeitos da relação de trabalho.
Read MorePara o STJ, a apresentação de CNH vencida não impede o candidato de realizar prova.
 É certo que, no edital de todo concurso, haverá a exigência de apresentação de documento de identificação pessoal para a realização das provas e para a participação das eventuais outras etapas da competição.
É certo que, no edital de todo concurso, haverá a exigência de apresentação de documento de identificação pessoal para a realização das provas e para a participação das eventuais outras etapas da competição.
Intuitivamente, e mesmo em raciocínio jurídico estrito, tende-se a concluir que os documentos de identificação pessoal a serem apresentados devem estar todos em seu prazo de validade.
Mas, no que toca especificamente à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), será mesmo que o escorrimento de seu prazo de validade a invalida como documento de identificação pessoal para concurso público?
Vejamos.
A CNH encontra previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), o qual prevê, em seu artigo 159, caput e § 10, a validade daquela como documento de identificação pessoal. O mesmo dispositivo legal esclarece também que a validade do documento está condicionada à realização dos exames de aptidão física e mental, razão pela qual o documento deve ser renovado periodicamente.
A propósito, confira-se a íntegra dos mencionados textos legais:
Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em modelo único e de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional.
[…]
§ 10. A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental.
Da leitura do dispositivo em questão já se pode responder à questão ventilada: o que se expira após o prazo de validade do documento são os exames de aptidão e, por conseguinte, a capacidade jurídica para dirigir veículo automotor. Ou seja, uma interpretação plausível e válida é que o vencimento do prazo de validade dos exames de aptidão em nada prejudica seu caráter identificador da CNH.
É que em lugar algum do caput do artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) extrai-se a existência de prazo de validade da CNH no que se refere à utilidade de identificação pessoal do portador e titular.
Assim, não se pode concluir noutro norte que não o de que a Carteira de Habilitação pode ser utilizada como documento de identificação pessoal mesmo que vencida. Inclusive, ela permanece sendo válida para a realização de provas de concurso público.
E bem por essa razão é que, nos casos em que o edital do certame veda a apresentação de documentos com a validade expirada, esta proibição não deve ser aplicada quando o documento em questão for a CNH com função de identificação pessoal, pois esta validade diz respeito apenas à capacidade de condução no trânsito.
E a jurisprudência não destoa desse entendimento.
Em de setembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisou caso em que uma candidata foi impedida de realizar exame por ter apresentado CNH vencida, ocasião em que o fiscal de prova não permitiu a sua participação nesta fase do certame. Em sua decisão, o STJ concluiu pelo seguinte:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE CNH VENCIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, em que se almeja a realização de nova prova objetiva para o cargo de Cirurgião Dentista em Concurso Público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital 1-SEAP/SES-NS de 28 de maio de 2014. Alega a impetrante, ter sido impedida de realizar o exame no dia previsto devido ao fato de ter apresentado, no momento da identificação, Carteira Nacional de Habilitação vencida, documento que teria sido recusado pelo fiscal de prova. яндекс
2. A controvérsia posta nos autos, refere-se à possibilidade de utilização da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com prazo de validade expirado, como documento de identificação pessoal.
3. Em recente julgado da 1a Turma deste Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1.805.381/AL, firmou-se a compreensão de que o prazo de validade constante da Carteira Nacional de Habilitação deve ser considerado estritamente para se determinar o período de tempo de vigência da licença para dirigir, até mesmo em razão de o art. 159, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, condicionar essa validade ao prazo de vigência dos exames de aptidão física e mental. Não se vislumbra qualquer outra razão para essa limitação temporal constante da CNH, que não a simples transitoriedade dos atestados de aptidão física e mental que pressupõem o exercício legal do direito de dirigir (REsp. 1.805.381/AL, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.6.2019).
4. Nesse contexto, revela-se ilegal impedir candidato de realizar prova de concurso, sob o argumento de que o Edital exigia documento de identificação dentro do prazo de validade, uma vez que não foi observado o regime legal afeto ao documento utilizado. Acrescente-se, ainda, não haver violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas tão somente a utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para se afastar a restrição temporal no uso da CNH para fins de identificação pessoal em sede de Concurso Público.[1]
Como se pode ver da decisão do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela uniformização da interpretação das normas federais, o vencimento da CNH não lhe retira a função de identificação pessoal, motivo pelo qual um candidato não pode ser impedido de realizar prova em razão de apresentar a CNH vencida.
Portanto, extrai-se do texto do Código de Trânsito Brasileiro e da jurisprudência pátria que a CNH vencida vale, sim, como documento de identificação pessoal para concurso público.
Confira mais textos sobre concursos públicos:
Em caso de desistência, os próximos candidatos da lista classificatória têm direito à nomeação?
O Poder Judiciário pode reexaminar questões e critérios de correção aplicados em concurso público?
[1] STJ RMS Nº 48.803 – DF (2015/0170636-6). Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Primeira Turma. Julgado em 03/09/2019.
Read MoreA chegada das audiências de conciliação on-line para tratar de seus conflitos, seja em âmbito administrativo ou judicial, é uma realidade pretendida, um pouco distante, mas cada vez mais próxima e já autorizada.
A Lei Federal nº 13.994/2020 previu uma relevante adaptação evolutiva e tecnológica: a audiência de conciliação em ambiente virtual nos Juizados Especiais Cíveis, estendendo-se a autorização aos Juizados Especiais da Fazenda Pública e aos Juizados Especiais Federais.
Gustavo Henrique Carvalho Schiefler[1]
Há uma utilidade inerente às audiências de conciliação quando as partes estão abertas ao diálogo, ainda que em posições firmes e contrapostas. A razão é simples: no evento de autocomposição, um terceiro intermedeia o processo de troca de informações e facilita que as partes compreendam seus interesses recíprocos, e não somente as posições, que criem opções aceitáveis, empreguem critérios objetivos e, ao fim, estruturem uma solução legítima para o problema. O acordo abrange a ideia de superação da solução potencial que decorreria da sentença, que naturalmente apresenta riscos às partes, pois depende inteiramente do entendimento de um terceiro imparcial.
As conciliações em Juizado Especial Cível que conduzi como estagiário e estudante de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), há mais de 10 anos, representaram a minha primeira experiência como ator do sistema de Justiça. Empolgava-me a quantidade e a qualidade dos acordos que eram alcançados quando as partes despiam-se de suas armaduras, quando ouviam o problema relatado por um terceiro, a partir de orientação legal e oportunidade para o diálogo.
Obviamente, muitas audiências de conciliação duravam trinta segundos e eram inúteis à resolução da controvérsia. Mas, quando venciam a resistência inicial, o acordo era comum. Se por um lado existem críticas relevantes em relação à obrigatoriedade da audiência de conciliação quando uma das partes expressa e antecipadamente nega o seu interesse em buscar um acordo[2], por outro é incontroverso o seu potencial e que um sem número de casos é encerrado adequadamente pela via consensual.
Aliás, o peso às partes e a ineficácia de inúmeras audiências de conciliação obrigatórias e presenciais são apenas sintomas de que este evento necessita de uma reformulação conceitual, ou melhor, de uma evolução estrutural.
Neste contexto, a transição das audiências para o ambiente virtual é desejada e previsível. A referência do momento é a Lei Federal nº 13.994/2020. Elogia-se efusivamente a inovação normativa segundo a qual os Juizados Especiais Cíveis estão agora autorizados a realizar as suas audiências de conciliação em ambiente virtual, por intermédio das tecnologias de transmissão de imagem e som.
É o que dispõe o recém-inserido § 2º do artigo 22 da Lei Federal nº 9.099/1995:
“Art. 22. […] §2º É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes.”
A inovação é aderente a uma realidade nacional: a cultura tecnológica. Sem ignorar a carente categoria dos excluídos digitais, fato é que os brasileiros são adeptos e vocacionados aos meios de comunicação em ambiente virtual, com mais de 420 milhões dispositivos digitais, sendo 230 milhões celulares ativos e 180 milhões computadores (desktops, notebooks ou tablets), segundo estatísticas divulgadas em abril de 2019 pela Fundação Getúlio Vargas – FGV[3].
A prova derradeira de que a cultura tecnológica ocupa espaço cada vez mais integrado ao cotidiano do brasileiro e incorpora um progresso pujante à realidade socioeconômica veio com os tempos pandêmicos. É com a transmissão de áudios, vídeos e textos por dispositivos eletrônicos que se viabiliza a temporada de distanciamento social. É pelos smartphones, tablets, notebooks e computadores que nos comunicamos com aqueles que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar em razão da COVID-19. É com videoconferências que nos organizamos profissionalmente ou aproveitamos momentos de descontração com familiares afastados.
De contatos a contratos, de diálogos a negociações, de serviços a pagamentos, de notícias a políticas públicas, os relacionamentos deslocaram-se de vez para um ambiente multimídia, universal e interligado: a internet. Nada mais natural que o locus para a resolução de controvérsias também seja deslocado a esse ambiente.
Os atendimentos remotos ao cliente, por meio de chats e e-mails, ou mesmo a resolução de controvérsias intermediada por plataformas eletrônicas especializadas, já são uma realidade. A novidade é que o fomento ao consenso on-line entre partes litigantes não representa mais uma exclusividade da iniciativa privada. A Lei Federal nº 13.994/2020 é prova de que o estado brasileiro, pouco a pouco, vem descobrindo as benesses do emprego de ferramentas eletrônicas para dirimir as controvérsias, expressão de uma tendência internacional denominada Online Dispute Resolution (ODR).
Como consultor jurídico da Mediação Online (MOL), empresa vencedora do Prêmio Conciliar é Legal, de 2018, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelos resultados obtidos com sua plataforma tecnológica de serviços de negociação, conciliação e mediação em ambiente virtual, participei de alguns eventos que confirmaram esta tendência.
Desde o lançamento da campanha “A Justiça Não Vai Parar”, pela referida empresa, há algumas semanas, percebi um interesse genuíno de diversos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) e Núcleos Permanentes de Mediação e Conciliação (Nupemecs) por uma solução que permitisse a virtualização estruturada das audiências de autocomposição.
Para além da recente autorização legal específica aos Juizados Especiais Cíveis, nota-se uma pretensão abrangente em favor da efetiva instauração de audiências on-line em todas as espécies de processos judiciais, seja em audiências de autocomposição pelo rito ordinário ou mesmo em audiências de instrução e julgamento.
Com a gratuidade do uso da plataforma tecnológica e dos serviços oferecidos durante a sobredita campanha, as dúvidas jurídicas mais básicas e comuns da administração judiciária, geralmente vinculadas ao processo de contratação pública, foram rapidamente superadas. Não havendo necessidade de se conversar sobre “como contratar” uma plataforma tecnológica que permita a realização estruturada e integrada dessas audiências, passou-se diretamente ao diálogo sobre as funcionalidades e sobre “como melhorar” as audiências de autocomposição no Brasil.
E neste contexto, não há espaço para dúvida. A virtualização das audiências de autocomposição nos processos judiciais brasileiros representa uma verdadeira adaptação evolutiva do Poder Judiciário.
Comunicações não presenciais são mais econômicas, céleres, seguras e, comumente, mais eficientes. Para ficar em apenas um exemplo sobre a economicidade desta solução, ilustre-se que o preço de duas passagens de metrô, economizado por uma audiência presencial substituída pela audiência virtual, é aproximadamente equivalente ao preço de dois gigabytes de internet móvel para um smartphone, suficientes para as comunicações virtuais de uma semana regular; e as três ou cinco horas investidas entre o deslocamento antecedente e o retorno à residência para a participação em uma audiência presencial são substituídas por trinta a sessenta minutos da audiência virtual. Economia de tempo, economia de recursos.
O futuro das ODRs é promissor. As audiências on-line nos Juizados Especiais Cíveis devem ser apenas o início de uma transformação normativa e cultural na condução dos processos pelo Poder Judiciário brasileiro, que precisa alcançar especialmente as causas em que contende a administração pública.
Como advogado atuante na área de direito administrativo, vivencio também o lado oposto do entusiasmo com as audiências de conciliação. A partir do rigoroso e preconceituoso dogma de que a indisponibilidade do interesse público impediria qualquer transação pela administração pública, percebo o alívio da classe com despachos que negam a realização da audiência de conciliação.
O alívio quando uma audiência de conciliação não é agendada ou é cancelada num processo contra a administração pública não decorre de um espírito bélico que seria inerente à advocacia brasileira, mas de um verdadeiro sentimento de autopreservação, tanto de interesses próprios como dos clientes, já que audiências neste contexto infelizmente costumam durar trinta segundos, em tentativa infrutífera[4].
Sendo o estado brasileiro o maior litigante nacional, a chegada das audiências de conciliação on-line para tratar de seus conflitos, seja em âmbito administrativo ou judicial, é uma realidade pretendida, um pouco distante, mas cada vez mais próxima e já autorizada.
Autorizada porque, vale recordar, a Lei Federal nº 9.099/1995, que recebeu a inovação das audiências virtuais, é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (vide artigos 15 e 27 da Lei Federal nº 12.153/2009) e aos Juizados Especiais Federais (vide artigo 1º da Lei Federal nº 10.259/2001). Portanto, a interpretação jurídica mais adequada é que os Juizados Especiais da Fazenda Pública (JEFPs) e os Juizados Especiais Federais (JEFs) também estão autorizados a realizar audiências on-line.
Deseja-se um implementação efetiva. Por enquanto, fica o anúncio de que a transposição da audiência de conciliação ao ambiente virtual é uma adaptação evolutiva do Poder Judiciário, que aumentará a eficácia do evento, seja pela economia de recursos e de tempo, pela diminuição das ausências ou pelo aumento dos níveis quantitativos e qualitativos dos acordos.
Com o tempo, a virtualização das audiências contribuirá para a confirmação de que o acesso à justiça nem sempre depende de um juiz togado, ou mesmo de um árbitro. Nada contra o trabalho dos magistrados e dos árbitros brasileiros, que, em regra, entregam boa jurisdição à comunidade, mas tudo em favor das alternativas prévias, como a pacificação das controvérsias pela internet, em exercício institucional e intermediado de autotutela.
Texto originalmente publicado em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/conciliacao-online-nos-juizados-especiais-e-uma-adaptacao-evolutiva-do-judiciario-11052020
[1] Advogado. Doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP). Educação Executiva pela Harvard Law School (Program on Negotiation). Pesquisador Visitante sobre arbitragem com administração pública no Max-Planck-Institut, em Hamburgo (Alemanha).
[2] Cf. CARREIRÃO, Bruno de Oliveira. Audiências de Conciliação são inúteis. Será que vocês já estão preparados para essa conversa? Portal Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 28 Abr. 2020. Disponível em: investidura.com.br/biblioteca-juridica/colunas/pitacos-de-um-advogado-rabugento/337834-audiencias-de-conciliacao-sao-inuteis-sera-que-voces-ja-estao-preparados-para-essa-conversa. Acesso em: 03 Mai. 2020
[3] Cf. 30ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP). Disponível em: << https://eaesp.fgv.br/ensinoeconhecimento/centros/cia/pesquisa>> Acesso em 3. Mar. 2020.
[4] Uma importante novidade neste cenário encontra-se na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), com a inserção recente do seu artigo 26, que permite expressamente a celebração de compromissos pela administração pública para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público.
Read MoreA Roda de Conversas tratará do tema sistemas eleitorais, debatendo basicamente vantagens e desvantagens da adoção do chamado sistema distrital misto.
 Amanhã, quarta-feira (25/09), o advogado Eduardo Rêgo participará da 1ª Roda de Conversas Eleitorais, evento organizado pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SC, do qual Eduardo é integrante.
Amanhã, quarta-feira (25/09), o advogado Eduardo Rêgo participará da 1ª Roda de Conversas Eleitorais, evento organizado pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SC, do qual Eduardo é integrante.
A Roda de Conversas tratará do tema sistemas eleitorais, debatendo basicamente vantagens e desvantagens da adoção do chamado sistema distrital misto, em detrimento do sistema proporcional, atualmente adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Read More
A Locus Iuris é uma das maiores empresas juniores de Direito do Brasil e atua, principalmente, na área do Direito Empresarial, com foco nas empresas startups.
 O estagiário José Vitor Schmitz foi aprovado no processo seletivo da Locus Iuris, empresa júnior do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e assumiu o cargo de Gerente de Projetos.
O estagiário José Vitor Schmitz foi aprovado no processo seletivo da Locus Iuris, empresa júnior do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e assumiu o cargo de Gerente de Projetos.
O período trainee teve inicio em abril de 2019, sendo que, ao final, José Vitor foi efetivado como membro da Diretoria, no cargo de Gerente de Projetos. Esta função é responsável pela coordenação e gerenciamento dos projetos realizados pela equipe, além do esclarecimento de dúvidas e orientação dos demais membros que assessoram a execução.
A Locus Iuris é uma das maiores empresas juniores de Direito do Brasil e atua, principalmente, na área do Direito Empresarial, com foco nas empresas startups.
