Em que hipóteses as vagas reservadas a pessoas com deficiência devem ser revertidas para a ampla concorrência?

Na ausência de candidato aprovado para vaga de pessoa com deficiência (PCD), o próximo candidato da ampla concorrência deve ser nomeado.
A Constituição Federal brasileira tem insculpida em si, no artigo 37, inciso II, o mandamento normativo de que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, cujo escopo é selecionar, por critérios objetivos, estabelecidos em edital, o candidato mais bem preparado e nomeá-lo.[1]
Na mesma esteira, o inciso VIII deste mesmo artigo constitucional[2] promana a regra de que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência, definindo os critérios de admissão destes.
Sabe-se, também, que os concursos públicos são lançados por meio de edital, que consiste em um documento escrito pelo qual a Administração institui as “regras” da competição que, ao final, selecionará os candidatos com melhor desempenho a ocuparem as vagas.
É claro que, devido à sua natureza administrativa, o edital do concurso público, antes de tudo, deverá ser observado pelo prisma dos princípios-base da Administração, a saber: da legalidade (embasamento de ação ou inação na lei); da impessoalidade (a administração não fará distinções para com os que dela fruam); da moralidade (necessidade de haver embasamento valorativo nos atos administrativos); da publicidade (os atos da administração serão, em regra, públicos); e da eficiência (optar-se-á, sempre, pela medida de melhor relação entre custo e benefício).
Ainda no que toca ao edital, como consectário do microssistema principiológico acima explicitado, vige o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, isto é, ao edital, assentando o dever da Administração de cumprir integralmente com o conteúdo regrado pelo edital.
Trata-se, a bem da verdade, de princípio baseado também na crença que o cidadão deposita na atuação administrativa, o chamado “princípio da confiança legítima”. Ou seja, o cidadão confia que a Administração Pública, ao publicar as “regras do jogo”, não fugirá delas durante o certame.
No nosso ordenamento jurídico, a análise judicial é permitida quando existe alguma ilegalidade na atuação administrativa durante o concurso público. Isto é, o Poder Judiciário atua em defesa dos candidatos quando a Administração pratica alguma ilegalidade, que foge ao seu poder discricionário. Nesse sentido, em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o Poder Judiciário está legitimado a agir quando a Administração não segue as regras do edital que ela mesma publicou – e, portanto, se vinculou.
Trazendo-se esse raciocínio ao presente tema, surge a questão que é objeto do presente texto: em que hipóteses as vagas reservadas a pessoas com deficiência devem ser revertidas para a ampla concorrência?
É seguro afirmar que, existindo previsão no edital de que, na hipótese de não haver pessoa(s) com deficiência (PCD) aprovada(s) no certame “abre-se” a vaga ao aprovado em ampla concorrência, surgirá o direito subjetivo à nomeação do próximo candidato eventualmente aprovado em ampla concorrência, para a vaga em questão, ainda que originalmente em cadastro de reserva.
Ou seja, contanto que (a) não existam candidatos PCD em número suficiente para preencher todas as vagas previstas nesta lista especial e (b) exista previsão no edital para essa hipótese, a Administração será obrigada a seguir a regra que ela própria estabeleceu e, assim, a proceder à nomeação dos candidatos aprovados na ampla concorrência para ocupar os cargos inicialmente previstos para as pessoas com deficiência (PCDs).
Foi com esse entendimento que, no final de 2019, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo como relator o Ministro Sérgio Kukina, decidiu pelo conhecimento e provimento do Recurso em Mandado de Segurança (RMS) nº 59.885 – MG (2019/0019507-3).
Na ocasião, a recorrente foi aprovada em 6º lugar, em ampla concorrência, em concurso público destinado ao provimento. Por sua vez, o edital previra 5 vagas para ampla concorrência e 1 vaga reservada para pessoa com deficiência física.
Acontece que, quando da homologação final do certame, não houve aprovação de pessoas com deficiência, mas, da mesma forma, não restou preenchida a vaga anteriormente reservada – ou seja, foram nomeados originalmente apenas 5 candidatos. Diante dessa situação, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que, tal como previra o edital, as vagas reservadas não preenchidas deveriam ser revertidas para os candidatos aprovados e classificados em ampla concorrência e, então, a Administração tinha o dever de nomear o próximo candidato da lista geral, mesmo que em cadastro de reserva.
Portanto, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que, na hipótese de previsão no edital, as vagas reservadas para pessoas com deficiência devem ser revertidas para ampla concorrência quando não houver aprovados que preenchem o requisito. Confira-se a ementa da decisão:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REVERTIDAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. PREVISÃO ESPECÍFICA NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em que há previsão específica no edital do certame, as vagas reservadas devem ser revertidas para a ampla concorrência, quando não houver aprovados que preenchem a condição de pessoas com deficiência.
2. Demonstrada a ausência de pessoas com deficiência aprovadas no certame, faz jus à vaga revertida à ampla concorrência o candidato aprovado e classificado, segundo a ordem classificatória final, nos termos do que expressamente dispõe o edital do concurso.
3. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança, reconhecendo à impetrante o direito líquido e certo à pretendida nomeação, como requerido na exordial.[3]
Consoante se depreende da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verifica-se que, com base na Constituição Federal e na jurisprudência pátria, a Administração deve proceder à nomeação de candidatos aprovados na ampla concorrência quando, havendo previsão no edital, as vagas reservadas a pessoas com deficiência não foram preenchidas em sua inteireza.
Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não tenha enfrentado, neste caso, uma situação em que havia omissão editalícia a respeito desta reversão da vaga à ampla concorrência, é razoável entender que a solução jurídica provavelmente seria a mesma, uma vez que a reserva de vagas reporta-se tão somente a uma qualificação do candidato apto a ocupar a vaga anunciada, mas não retira a presunção de necessidade de preenchimento desta vaga em caso de inexistência de candidatos aprovados nesta lista reservada, levando ao natural preenchimento pela lista geral.
[1] CRFB/88, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[…]
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; […]
[2] Art. 37. […] VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
[3] STJ – RMS Nº 59.885 – MG (2019/0019507-3), Relator: Min. SÉRGIO KUKINA. PRIMEIRA TURMA. Data de Julgamento: 17/10/2019.
Read MoreExceto nos casos em que houver alguma regulamentação específica e própria, a Administração terá liberdade para empreender uma pesquisa de mercado com os potenciais particulares a serem contratados, estabelecendo diálogos público-privados com esses potenciais fornecedores, devidamente registrados no processo administrativo. A partir de uma análise discricionária e motivada das diferentes opções, elegerá o particular a ser contratado diretamente, justificando tal seleção.
 Como deve ser selecionado o particular no processo de contratação direta por dispensa de licitação regida pela Lei nº 8.666/1993?
Como deve ser selecionado o particular no processo de contratação direta por dispensa de licitação regida pela Lei nº 8.666/1993?
Apesar das diversas modalidades de licitação que visam à seleção, pela Administração, do particular mais qualificado para a execução de um contrato público, a Lei Federal nº 8.666/1993 também permite, em alguns casos excepcionais, a contratação direta por dispensa de licitação. Estas hipóteses estão previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 24.
Nessa categoria de contratação que não depende de licitação, encontram-se as situações em que o legislador optou que, embora fosse tecnicamente possível, a realização do certame seria indesejada. Nesse cenário, em vez de proceder à licitação pública, o legislador entendeu que seria mais adequado contratar diretamente a empresa contratada.
Antes de tudo, é preciso salientar que a opção pela contratação direta, seja por dispensa ou inexigibilidade de licitação, deve ser feita em razão da necessidade administrativa observada pela Administração quando do planejamento da contratação pública. É dizer: durante a fase interna do processo de contratação, a Administração identifica a sua necessidade e elege a solução que mais bem atende a essa necessidade. Se essa solução estiver enquadrada na hipótese de dispensa, ela será válida.
Seguindo a análise, tem-se que o rol de hipóteses, contido no artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, é taxativo. Isto é, as hipóteses de dispensa de licitação estão dispostas nos incisos do artigo 24 e o administrador está permitido a contratar diretamente, por dispensa, apenas quando o caso se enquadrar na descrição da hipótese.
Alguns exemplos comumente vistos na prática administrativa são as situações que, em razão de um caso de emergência, possuem urgência na resolução de uma demanda administrativa, de modo que a realização de licitação pública seria imprópria pela demora na obtenção do contrato (inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993), e as hipóteses de contratação de pequeno valor (incisos I e II do artigo 24), em que a realização do procedimento licitatório produziria um custo desproporcional ao valor do contrato administrativo pretendido.
A título de informação, menciona-se que a Lei Federal nº 13.979/2020, editada para auxiliar no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, previu uma nova hipótese de dispensa de licitação: nas situações em que a Administração pretende contratar bens, serviços (inclusive de engenharia) e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia de COVID-19 (artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020[1]).
Sobre o procedimento a ser empreendido para a contratação direta por dispensa de licitação, é importante salientar o que dispõe o artigo 26 da Lei nº 8.666/1993[2]. Este dispositivo determina que as dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do artigo 17 e, para o que interessa a este texto, no inciso III e seguintes do artigo 24 devem ser comunicadas, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
Vale ressaltar, ainda, o parágrafo único do mesmo artigo 26, segundo o qual:
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I – caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço.
IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados;
Mas, afinal, como devem ser interpretados tais regramentos?
Pois bem. Em relação à dúvida sobre a necessidade de que a Administração estabeleça regras objetivas no que toca à quantidade de empresas chamadas a apresentarem propostas e no que toca à forma de seleção da contratada, antecipa-se que não há qualquer previsão legal que determine, de forma objetiva, o número mínimo de empresas a serem chamadas para apresentação de proposta, tampouco há regramento para com os critérios a serem utilizados pela Administração para selecionar a empresa contratada.
Em outras palavras, não há qualquer impedimento legal, ou regulamentação em nível de lei, sobre o número de empresas que devem apresentar proposta e nem sobre os critérios que a Administração precisaria avaliar para selecionar o contratado. Estas questões dizem respeito às licitações, não à dispensa. Ou seja, a Lei Federal nº 8.666/1993 permite o ato de dispensar a licitação, mas não o delimita.
A regulamentação do procedimento para seleção do particular a ser contratado diretamente pode, eventualmente, ocorrer no âmbito infralegal de cada ente federado – tal como no âmbito federal, em que se prevê a dispensa eletrônica (artigo 51 do Decreto Federal nº 10.024/2019), ainda não regulamentada, que deverá substituir a cotação eletrônica (Portaria MPOG nº 306/01), ambos mecanismos destinados à seleção simplificada de fornecedor que apresente o menor preço para contratações de bens de pequeno valor.
Agora, esta ausência de critérios legais objetivos para a seleção da licitante não significa que se está em ambiente de plena liberalidade do agente público. Não. A escolha é discricionária, sim, porém devidamente – e tecnicamente – motivada. E afirma-se isto com tamanha categoria porquanto o próprio artigo 26 da Lei de Licitações e Contratos, em seu parágrafo único, supracitado, impõe que as seleções feitas pela Administração, ainda que em caso de dispensa de licitação, sejam devidamente justificadas.
Obrigatoriamente, o agente público deve apresentar a razão da escolha do fornecedor ou executante (artigo 26, parágrafo único, inciso II) e, também, a justificativa do preço (artigo, parágrafo único, inciso III). Sendo tais requisitos preteridos, impõe-se a anulação do ato administrativo que selecionar a empresa, ou mesmo do contrato.
A propósito, o Tribunal de Conta da União (TCU) possui jurisprudência pacífica a qual caminha na mesma direção: é preciso justificar a escolha da empresa contratada. Tanto o é, que o ministro Marcos Bemquerer Costa, relator do Acórdão nº 2186/2019, postulou que “a legislação, no caso de dispensa de licitação, não impõe regras objetivas quanto à quantidade e à forma de seleção do contratado, mas determina que essa escolha seja justificada”[3].
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) trilha o mesmo rumo. Em sede de Agravo em Recurso Especial[4], afirmou o relator, ministro João Otávio de Noronha, ser “incontroverso que a falta de justificativa (pautada no interesse público) levada a efeito no caso em exame, impõe a nulidade do ato. Ademais, não houve sequer procedimento prévio acerca da dispensa da licitação com suas justificativas, como exige o artigo 26 da Lei 8666/93 […]”.
Exceto nos casos em que houver alguma regulamentação específica e própria, a Administração terá liberdade para empreender uma pesquisa de mercado com os potenciais particulares a serem contratados, estabelecendo diálogos público-privados com esses potenciais fornecedores, devidamente registrados no processo administrativo. A partir de uma análise discricionária e motivada das diferentes opções, elegerá o particular a ser contratado diretamente, justificando tal seleção.
Portanto, conclui-se que, embora não haja regras concretas e objetivas no atinente à quantidade e à forma de seleção do contratado, deve a Administração, necessariamente, e em atenção ao parágrafo único do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, apresentar a razão da escolha do contratado e a justificativa do preço, sob pena de nulidade do ato.
[1] Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
[2] Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos
[3] TCU – RP: 00174720185, Relator: MARCOS BEMQUERER, Data de Julgamento: 11/09/2019, Plenário.
[4] STJ – AREsp: 1610192 MS 2019/0323149-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 03/02/2020.
Read More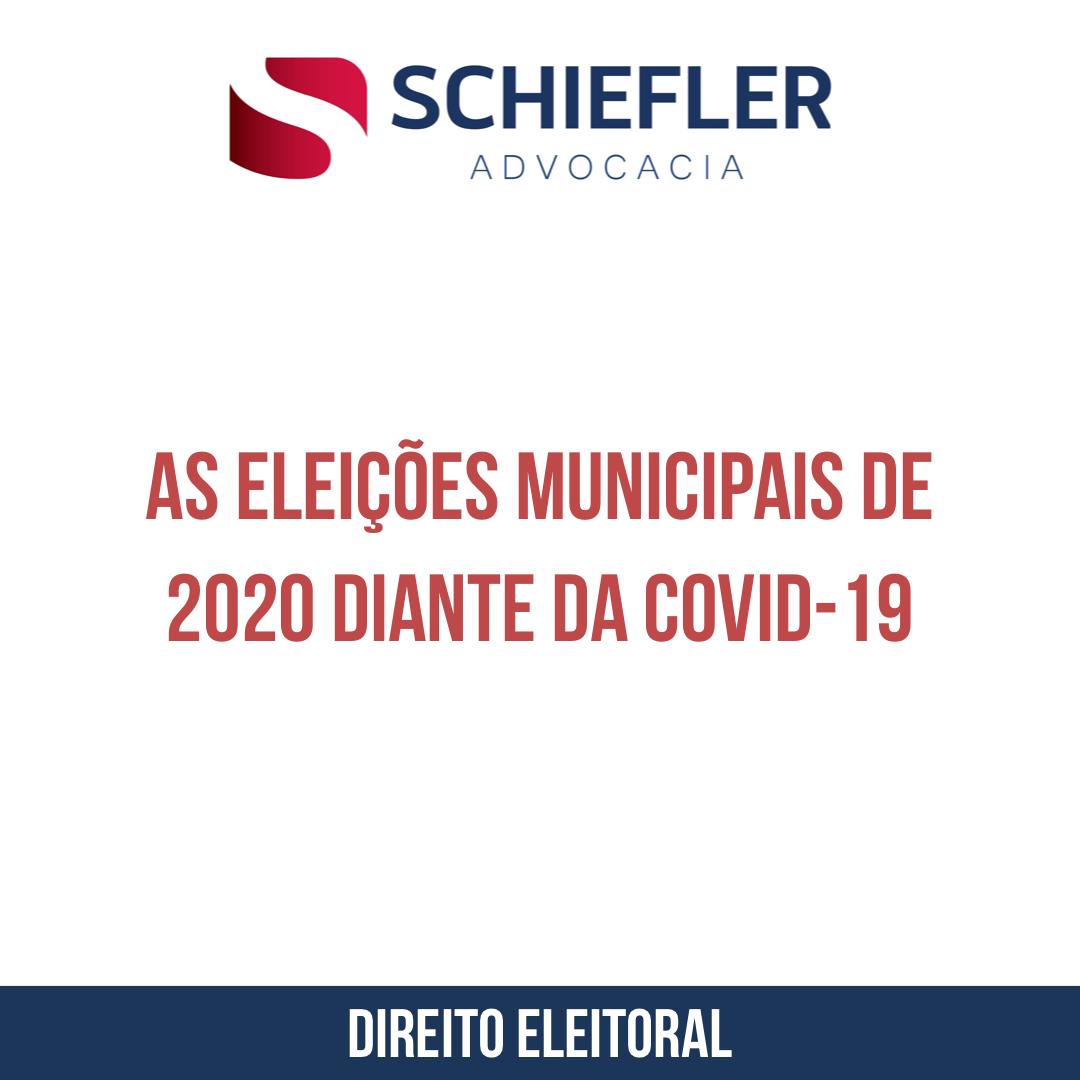
Eduardo de Carvalho Rêgo[1]
Nos últimos dias, o futuro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ministro Luís Roberto Barroso, admitiu em entrevistas o “risco real” de adiamento das eleições municipais de 2020, tendo em vista o aumento exponencial de casos de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19) nos mais diversos Estados brasileiros. Segundo o Ministro, a decisão de adiar as eleições de 2020 precisaria ser tomada, no mais tardar, no mês de junho.
A providência não seria simples, pois a data das eleições municipais está categoricamente prevista nos incisos I e II do art. 29 da Constituição Federal:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
I – eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;
II – eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores; […].
A regra é muito clara e não está sujeita a distorções: o primeiro turno das eleições municipais para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores deve acontecer, de quatro em quatro anos, sempre no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder. Caso haja necessidade de um segundo turno para o preenchimento das vagas do Poder Executivo, este deverá ocorrer no último domingo de outubro do ano eleitoral, nos Municípios que contarem com mais de duzentos mil eleitores
Muitos defendem que, diante do texto peremptório acima mencionado, não haveria margem para adiamento das eleições em nenhuma hipótese, sendo imperativa a sua realização, independentemente da pandemia da Covid-19. Em outros termos: há quem entenda que, por não haver exceção prevista constitucionalmente, as eleições de 2020 devem ocorrer de qualquer maneira, mesmo que isso provoque um agravamento da pandemia.
Vale lembrar que, em sentido amplo, o termo “eleição” não se refere apenas ao dia da votação, isto é, ao primeiro e ao último domingo de outubro do ano eleitoral – neste último caso, na hipótese de necessidade de realização de segundo turno nos Municípios com mais de duzentos mil habitantes. Com efeito, o ano eleitoral possui um calendário complexo, que envolve, entre outras atividades, a realização das convenções partidárias com a escolha dos candidatos, o registro das candidaturas propriamente ditas, a exibição de propaganda eleitoral gratuita e a apresentação da prestação parcial das contas de campanha. Isso sem contar o período reservado para testes das urnas eletrônicas e de treinamento dos mesários que irão colaborar com a Justiça Eleitoral no dia do pleito.
Ou seja: quando se fala em adiamento das eleições, não se está a considerar apenas os riscos de aglomeração no dia do pleito, mas também as relações interpessoais que precisam ser travadas nos meses que antecedem o dia de votação. Nesse sentido, não é forçoso dizer que as eleições já estão sofrendo as consequências da pandemia neste exato momento.
Qual seria, então, a solução para o problema descrito?
Em primeiro lugar, é preciso que os juristas entendam que o Direito não pode pretender se sobrepor aos fatos da vida ou, numa expressão mais coloquial, à vida real. Ora, diante de uma pandemia que está a ceifar a vida de um número expressivo de cidadãos brasileiros, o cumprimento de um prazo legal, mesmo aquele previsto na norma de maior hierarquia do país (Constituição Federal), não pode ser levado a ferro e fogo. Realizar as eleições em outubro de 2020 não é um caso de vida ou morte; o combate à pandemia da Covid-19 é. Em síntese: se o contágio do novo coronavírus não for sensivelmente contido no próximo mês, então obviamente as eleições não poderão se realizar.
É mais ou menos isso que indicou o Ministro Luís Roberto Barroso quando se referiu à necessidade de se tomar uma decisão até o mês de junho, pois é nesse mês que são realizados os testes das urnas eletrônicas, que garantem a lisura do pleito, além das convenções partidárias, que acabam por definir o nome dos candidatos que concorrerão no pleito, e a formação de coligação para as disputas majoritárias.
Ao que tudo indica, caso a pandemia não arrefeça, no mês de junho, quando já terá assumido a Presidência da Corte Eleitoral, Barroso tomará a iniciativa de intermediar um movimento político pelo adiamento das eleições, que deverá vir, necessariamente, por meio de uma Emenda Constitucional.
A solução menos traumática seria incluir no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) regra específica e limitada apenas para as eleições de 2020, que poderiam ocorrer em novembro ou dezembro, considerando os impactos produzidos pela pandemia do novo coronavírus. Em assim procedendo, eleições futuras não seriam abarcadas por tal Emenda.
Sabe-se que já existem propostas tramitando no Congresso Nacional, no sentido de prorrogar os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores até 2022, ocasião em que as eleições gerais (para Presidente, Vice-Presidente, Senadores, Governadores, Deputados Federais e Estaduais) e as eleições municipais (Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores) seriam doravante unificadas.
Entretanto, tais propostas não agradam ao próximo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vê com bons olhos as eleições de dois em dois anos, por serem um “rito vital para a democracia”.
De fato, na atual conjuntura política brasileira, o pleito eleitoral parece ser o momento em que o princípio democrático mais se conecta com os cidadãos. Nesse sentido, diminuir a frequência dos pleitos, de dois para quatro anos, poderia provocar um resultado deletério, aumentando o desinteresse do brasileiro pela política. De qualquer modo, parece inadequado e, em certo sentido, oportunista propor uma discussão dessa envergadura em meio a uma situação de extrema excepcionalidade, tal como a que ora se apresenta a todos os brasileiros.
Com a definição do adiamento em junho, certamente um novo calendário eleitoral será proposto e, a partir dele, poderemos compreender melhor o impacto da Covid-19 nas eleições de 2020.
[1] Eduardo de Carvalho Rêgo – Advogado. Coordenador das Unidades de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral no Escritório Schiefler Advocacia (www.schiefler.adv.br). Doutor em Direito, Política e Sociedade e Mestre em Teoria, História e Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Especialista em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL); Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).
Read MoreA legislação que rege o ingresso e a carreira militar é a Lei Federal nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), sendo que, neste diploma normativo, não há qualquer disposição de que deve ser utilizado o índice de massa corpórea (IMC) como parâmetro para aferir a aptidão médica dos aspirantes a militar.
 Candidatos de concurso militar não podem ser eliminados em razão do Índice de Massa Corporal (IMC), decide STJ
Candidatos de concurso militar não podem ser eliminados em razão do Índice de Massa Corporal (IMC), decide STJ
É sabido que, em razão de regra constitucional, o ingresso em cargo público depende de aprovação em concurso público, ocasião em que o candidato será avaliado por critérios objetivos, previstos em lei e no edital do certame. No caso de concurso público militar, para ingresso nas Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, a Constituição Federal conferiu especial atenção ao processo de escolha dos candidatos, tendo em vista a função altamente sensível para salvaguarda da soberania nacional e na garantia da democracia.
Especificamente, o inciso X do artigo 142 da Constituição[1] confere à lei a função de dispor sobre o ingresso nas Forças Armadas, em especial quanto aos critérios de seleção. Ou seja, as regras aplicáveis aos concursos militares para preenchimento de cargos devem ser estabelecidas por norma com estatura hierárquica de lei – sendo inaplicável, nesse sentido, qualquer inovação por meio de normas infralegais ou editalícias.
Hoje, a legislação que rege o ingresso e a carreira militar é a Lei Federal nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), sendo que, neste diploma normativo, não há qualquer disposição de que deve ser utilizado o índice de massa corpórea (IMC) como parâmetro para aferir a aptidão médica dos aspirantes a militar. Assim sendo, é ilegal a eliminação de candidato que, aprovado nas demais fases do concurso público, possua IMC superior ao mínimo estabelecido em edital.
Como a lei não autoriza a utilização desse critério, a exclusão de candidatos com base nele é uma prática ilícita passível de controle pelo Poder Judiciário.
Em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou este entendimento e afastou a possibilidade de eliminar candidatos em concurso militar em razão do IMC, uma vez que inexiste na lei de regência autorização específica, não sendo suficiente a mera inclusão do requisito no edital. Leia-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. APTIDÃO FÍSICA. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. […]
A lei de regência das forças armadas (Estatuto dos Militares – Lei nº 6.880/80) não elenca nenhuma exigência quanto ao limite de altura, peso ou IMC para o ingresso na carreira, de modo que a previsão de algum desses requisitos, em concursos públicos, somente seria permitida mediante respaldo legal específico, compatível com as atribuições do cargo, sendo insuficiente a mera inclusão como cláusula do edital.
3.Agravo interno desprovido.[2]
Esta decisão não foi tomada de modo isolado, mas representa o entendimento jurisprudencial pacífico do Poder Judiciário. Confiram-se outras decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que é o órgão responsável por uniformizar o entendimento das decisões judiciais em território brasileiro:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CURSO DE FORMAÇÃO DE TAIFEIROS. LIMITAÇÃO DE PESO PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. […]
III – No caso, por mais que se possa compreender a razoabilidade da eventual fixação de limite de altura e peso para ingresso em determinadas carreira, é forçoso reconhecer que a lei (Estatuto dos Militares – Lei nº 6.880/80) não elenca qualquer exigência quanto ao limite de altura e peso ou IMC para o ingresso nas Forças Armadas, mormente para a matrícula no Curso de Formação de Taifeiros.
IV – Agravo interno improvido.[3]
[…] CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. APTIDÃO FÍSICA. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. CRITÉRIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. […] III – A exigência de limites máximo e mínimo de Índice de Massa Corporal (IMC), em concursos públicos, somente é permitida mediante previsão legal específica, compatível com as atribuições do cargo. Precedente.
IV – Recurso improvido.[4]
O posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é compartilhado pelos demais Tribunais pátrios. É o caso do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4), que também decidiu no sentido de que “A Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), de forma alguma estabelece especificamente os requisitos para exames de saúde em concursos às fileiras militares. Portanto, evidente que não existe a fixação do Índice de Massa Corpórea – IMC como fator à aptidão ou não para ingresso na carreira militar, sendo defeso fazê-lo através de portaria ou Edital de concurso, à míngua de Lei que o autorize” (AC nº 5003370-91.2017.4.04.7101/RS, Relator Desembargador Rogério Favreto).
Constata-se, assim, que predomina o entendimento dos tribunais pátrios de que é juridicamente imprópria a eliminação de qualquer candidato em concurso público para ingresso em cargo das Forças Armadas em razão do índice de massa corpórea (IMC), ainda que este requisito conste de portaria ou do edital do certame, uma vez que a legislação de regência (Estatuto dos Militares – Lei Federal nº 6.880/80) não possui disposição que autorize o estabelecimento desta restrição.
Assim, candidatos a estes cargos que, em concursos públicos, forem eliminados em fase de avaliação médica por causa do seu índice de índice de massa corpórea podem, por meio da propositura de ação judicial, buscar o reconhecimento da nulidade desta decisão. Uma vez reconhecida esta ilegalidade, como a vasta jurisprudência vem fazendo, o candidato deverá ser mantido para participar das demais fases e, a depender da sua aprovação, ser nomeado e empossado no respectivo cargo.
[1] Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
[…]
X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.
[2] STJ, AgInt no REsp 1761455/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019.
[3] STJ, AgInt no REsp 1570361/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018.
[4] STJ, REsp 1610667/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017.
Read MorePor inúmeras potenciais razões, há casos em que o contratado não é capaz de manter ou de comprovar a manutenção de sua regularidade fiscal durante a execução do contrato. E aí surge a questão: qual a consequência jurídica?
 O Poder Público pode se recusar a pagar por serviços já prestados em razão de irregularidade fiscal posterior à celebração ou execução do contrato?
O Poder Público pode se recusar a pagar por serviços já prestados em razão de irregularidade fiscal posterior à celebração ou execução do contrato?
A prestação de serviços para a Administração Pública, de maneira geral, pode ser uma estratégia atrativa para empresas privadas que visam a firmar contratos de larga escala e/ou de longo prazo, em busca de lucros ou, ao menos, de fluxo financeiro, em benefício de sua saúde financeira, posicionamento no mercado ou até mesmo de expansão de atividades.
Entretanto, esta oportunidade é acompanhada de uma série de obrigações típicas, que não são comuns às contratações privadas. Ou seja, o processo de contratação pública é permeado de fases burocráticas, as quais demandam a apresentação, pelo particular, de uma grande quantidade de documentos a fim de comprovar, dentre outras coisas, as exigências contidas no inciso IV do artigo 27 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal nº 8.666/93), que estabelece a regularidade fiscal como condicionante para a habilitação da empresa na licitação.
Sobre o tema, é necessário observar as determinações feitas pelo artigo 29 da referida Lei, que consistem, especificamente, na prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. E essa demonstração de regularidade fiscal deve ocorrer na fase de habilitação da empresa licitante, que se dá, invariavelmente, em momento anterior ao início da execução dos serviços contratados.
Ocorre que, de acordo com o inciso XIII do artigo 55 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o contratado tem a obrigação de “manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”. Aplicando-se ao tema em análise, isto significa que o contratado precisa manter, durante a execução do contrato, a sua regularidade fiscal perante a Fazenda Pública.
Por inúmeras potenciais razões, há casos em que o contratado não é capaz de manter ou de comprovar a manutenção de sua regularidade fiscal durante a execução do contrato. E aí surge a questão: qual a consequência jurídica? A Administração Pública pode reter o pagamento por prestações já executadas? Deve-se rescindir o contrato?
Conforme se comprova a partir de inúmeros casos levados à análise do Poder Judiciário, há casos em que a Administração Pública retém repasses financeiros a empresas contratadas, após o início da execução dos serviços, em razão de irregularidades fiscais surgidas posteriormente à celebração ou execução do contrato.
No entanto, como não existe previsão legal que possibilite a imposição desta prática, tampouco isto se caracteriza como uma possibilidade de penalidade administrativa, os Tribunais possuem decisões reconhecendo a ilegalidade desta conduta administrativa.
Este entendimento é evidenciado em decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de maio de 2019, proferida pela Segunda Turma de Direito Público, segundo a qual, “apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência” (STJ, AgInt no REsp 1742457/CE).
De acordo com o voto do Relator Ministro Francisco Falcão, acolhido por unanimidade, a imposição de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços já prestados implicaria em afronta aos princípios norteadores da atividade administrativa, uma vez que não se revela razoável “que a comprovação de regularidade fiscal seja imposta como condição para a liberação do pagamento pelos serviços prestados”.
Ressalta-se que não se trata de um entendimento isolado da Segunda Turma. Conforme se depreende do acórdão RMS 53.467/SE, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, que seguiu exatamente na mesma linha de que é “vedada a retenção do pagamento pelos serviços prestados”.
Inclusive, o Tribunal de Contas da União (TCU) compartilha do entendimento do STJ, como se verifica do Acórdão 964/2012, do Plenário, cujo relator foi o Ministro Walton Alencar Rodrigues. O posicionamento do TCU nesse caso gerou o seguinte enunciado:
Enunciado
A perda da regularidade fiscal, inclusive quanto à seguridade social, no curso de contratos de execução continuada ou parcelada justifica a imposição de sanções à contratada, mas não autoriza a retenção de pagamentos por serviços prestados. (TCU, Acórdão 964/2012, Plenário. Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues. Julgado em 25/04/2012)
Abaixo estão as ementas dos acórdãos da Segunda Turma do STJ mencionados:
AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE. CONTRATAÇÃO COM A MUNICIPALIDADE. SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
I – Na origem, a Associação Beneficente Cearense de Reabilitação – ABCR impetrou mandado de segurança contra ato do Secretario de Saúde do Município de Fortaleza, pretendendo receber o repasse financeiro relativo a serviços por ela prestados, decorrente de contrato entabulado entre as partes, sem a necessidade de apresentação de certidão negativa expedida pela Fazenda Pública Nacional.
II – O Tribunal a quo manteve a decisão concessiva da ordem.
III – Ao recurso especial interposto pela municipalidade foi negado provimento, com base na Súmula 568/STJ, em razão da jurisprudência da Corte encontrar-se pacificada no mesmo sentido da decisão recorrida: apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência. Precedentes: REsp n. 1.173.735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/06/2017, dentre outros.
IV – Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento prestigiado pela decisão atacada.
V – Agravo interno improvido. [grifo acrescido]
(STJ, AgInt no REsp 1742457/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/05/2019, DJe 07/06/2019).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
[…] 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe concedeu parcialmente a ordem, para determinar à autoridade impetrada, exclusivamente, que se abstenha de condicionar o pagamento relativo às faturas das notas fiscais referentes aos serviços executados, decorrentes do contrato administrativo 55/2013, à apresentação de certidões negativas de débitos e/ou de regularidade fiscal (fls. 121-129, e-STJ).
- A decisão impugnada não merece reforma, pois cabe à recorrente cumprir com sua obrigação de apresentar a comprovação de sua regularidade fiscal, sob pena de ver rescindido o contrato com o Município pelo descumprimento de cláusula contratual, em que pese ser vedada a retenção do pagamento pelos serviços prestados, como ocorreu na espécie, no que tange às notas fiscais apresentadas na petição inicial. […]
- A recorrente não trouxe argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo.
- Recurso Ordinário não provido. [grifo acrescido]
(STJ, RMS 53.467/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)
Portanto, o entendimento que prevalece na Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Tribunal de Contas da União (TCU) é de que, embora seja dever da empresa contratada comprovar a sua regularidade fiscal, inclusive durante a execução do contrato, o Poder Público não pode se recusar a pagar pelos serviços já prestados, sob pena de cometer um ato administrativo ilegal e passível de reforma pelos órgãos de controle. As exceções existentes a este entendimento são bastante pontuais e estão relacionadas a casos em que a Administração Pública corre o risco de ser responsabilizada pelo débito fiscal pendente e inadimplido por parte do contratado.
Read MoreExiste o entendimento de que a suspensão do direito de licitar não se aplica a todas os processos licitatórios, ou seja, de que essa suspensão é válida apenas para as licitações lançadas pelo órgão ou entidade que aplicou a penalidade. Foi o que decidiu o Tribunal de Contas da União (TCU).
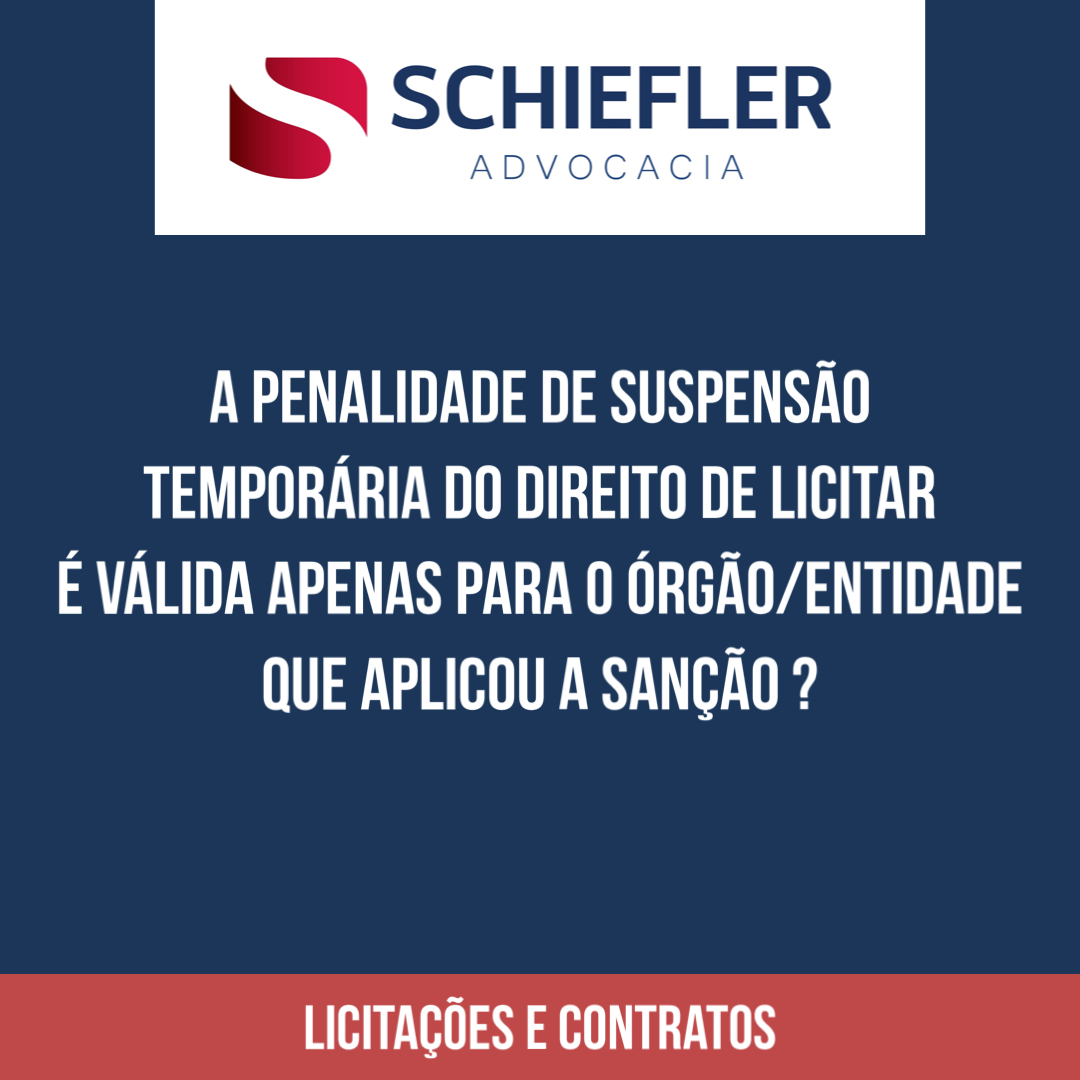
A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar é válida apenas para o órgão/entidade que aplicou a sanção?
O descumprimento de contratos decorrentes de processos licitatórios pode trazer graves prejuízos para a Administração Pública, colocando em risco a segurança e a efetividade desta forma de contratação. Por este motivo, a Lei Federal nº 8.666/1993[1]Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm estabelece diversas penalidades a serem aplicadas às empresas contratadas que descumprirem com a execução dos contratos administrativos firmados.
Exemplo disso é a suspensão temporária do direito de licitar, sanção prevista no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993[2]Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: […] III – suspensão … Continue reading. Esta medida impede que determinada empresa volte a participar de processo licitatório e firme contratos com a Administração por até dois anos, em decorrência de descumprimento do objeto contratual anteriormente pactuado.
Entretanto, existe divergência a respeito da amplitude desta penalidade. Por um lado, há o entendimento de que a suspensão do direito de licitar não se aplica a todas os processos licitatórios, ou seja, de que essa suspensão é válida apenas para as licitações lançadas pelo órgão ou entidade que aplicou a penalidade.
Foi o que decidiu o Tribunal de Contas da União (TCU), em decisão de fevereiro de 2019, que acolheu a manifestação da unidade técnica. Confira-se:
3. Por outro lado, o Diretor da unidade técnica especializada manifestou concordância parcial com a proposta de mérito, divergindo apenas quanto ao juízo sobre o procedimento da DPU ao inabilitar a representante em face de sanção pretérita de suspensão do direito de participar de licitações e de impedimento de contratar com a Administração (art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993), aplicada por outro órgão promotor, em afronta ao entendimento do TCU de que a abrangência dessa penalidade se restringe ao órgão/entidade sancionadora.[3]TCU, Acórdão nº 266/2019, TC 042.073/2018-9, Plenário, Relator Aroldo Cedraz, julgado em 13/02/2019.
Este entendimento adota o entendimento de que a mesma Lei que estabelece esta penalidade também conceitua importante diferença semântica entre as expressões “Administração Pública” e “Administração”. Por Administração Pública, tem-se o conjunto de órgãos e entidades do poder público através dos quais se exerce a administração direta e indireta da União. Já a Administração diz respeito a uma unidade administrativa isolada, através da qual a Administração Pública opera.
Note-se que, para o Tribunal de Contas da União (TCU), o conceito de Administração faz parte do conjunto da Administração Pública, mas não se confunde com ela. Apesar de, à primeira vista, se tratar de uma diferença conceitual sutil, na prática estes dois conceitos fazem toda a diferença. A penalidade disposta no artigo 87, inciso III da Lei de Licitações expressa claramente que haverá “suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração”, ou seja, que a parte penalizada não poderá firmar contrato com o órgão individual que aplicou a penalidade citada.
Por outro lado, existe o entendimento sustentado, ao menos até o momento, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se um exemplo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. ALCANCE DA PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. […] 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública […][4]STJ, AIRESP 201301345226, GURGEL DE FARIA, STJ – PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:31/03/2017.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota um conceito ampliado de Administração, que enfatiza o princípio da unidade administrativa, assumindo que os efeitos da conduta que inabilita o sujeito para a contratação devem se estender a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública.
Por fim, registre-se que a Lei Federal nº 13.979/2020 permitiu, excepcionalmente, a contratação de particular que esteja com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, desde que, comprovadamente, seja o único fornecedor do bem ou serviço necessário ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19 (art. 4º, § 3º).
Referências[+]
| ↑1 | Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm |
|---|---|
| ↑2 | Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: […]
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. |
| ↑3 | TCU, Acórdão nº 266/2019, TC 042.073/2018-9, Plenário, Relator Aroldo Cedraz, julgado em 13/02/2019. |
| ↑4 | STJ, AIRESP 201301345226, GURGEL DE FARIA, STJ – PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:31/03/2017. |
